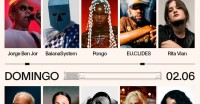Reportagem Milhões de Festa 2011
- Festivais
- Festivais
- Acessos: 7630
 Bem, parece que é mesmo verdade: o Milhões de Festa é, no mínimo dos mínimos, o festival mais único de todos os festivais. Único não tanto pelos concertos, mas antes pela experiência que proporciona a quem o visita. Se são inegáveis as falhas na organização (que é que raio se passou naquele palco da piscina no último dia?), ainda mais inegável é o enorme valor do festival, que olha para dentro quando outros olham para fora, resgatando nomes nacionais que outros não se lembraram, e apostando em nomes internacionais que afastariam tantos outros.
Bem, parece que é mesmo verdade: o Milhões de Festa é, no mínimo dos mínimos, o festival mais único de todos os festivais. Único não tanto pelos concertos, mas antes pela experiência que proporciona a quem o visita. Se são inegáveis as falhas na organização (que é que raio se passou naquele palco da piscina no último dia?), ainda mais inegável é o enorme valor do festival, que olha para dentro quando outros olham para fora, resgatando nomes nacionais que outros não se lembraram, e apostando em nomes internacionais que afastariam tantos outros.  Querem um festival em que as pessoas em vez de filmarem e tirarem fotos com os telemóveis se calem e ouçam o concerto, e onde até os moches parecem feitos numa espécie de comunhão amigável em que estão todos ali para se divertir em conjunto? Então o Milhões é para vocês.
Querem um festival em que as pessoas em vez de filmarem e tirarem fotos com os telemóveis se calem e ouçam o concerto, e onde até os moches parecem feitos numa espécie de comunhão amigável em que estão todos ali para se divertir em conjunto? Então o Milhões é para vocês.
Os problemas de organização deste ano (e mais vale despachar já isso, para falar depois do que realmente vale a pena) vieram, acima de tudo, da tentativa de fazer demasiado. Veja-se, por exemplo, o palco Lovers & Lollypops, aka, “aquele toldo à beira do rio que estava virado contra o sol e impossibilitava ver de frente os concertos sem apanhar uma insolação”. Som péssimo e um espaço que simplesmente não é, de forma alguma, apropriado para ver concertos.  Além, claro, dos problemas em lá chegar. As indicações foram colocadas já perto do fim do primeiro dia, e não foram poucos os que entretanto se perderam a caminho, tentando descobrir aquela descida escondida pela qual eu e mais uns quantos passámos duas ou três vezes sem sequer a ver.
Além, claro, dos problemas em lá chegar. As indicações foram colocadas já perto do fim do primeiro dia, e não foram poucos os que entretanto se perderam a caminho, tentando descobrir aquela descida escondida pela qual eu e mais uns quantos passámos duas ou três vezes sem sequer a ver.
 Além disto, houve as mudanças de alinhamento no palco da piscina, reveladas por vezes literalmente em cima da hora. Os atrasos foram, aliás, frequentes ao longo do festival, sendo ainda assim de louvar a forma como foi tratado o assunto: no recinto principal, onde estava o palco Milhões e o palco Vice, os concertos de cada palco só começavam após ter terminado que estava a decorrer no outro. Desta forma, era possível ver todos os concertos, do início ao fim, no recinto. E isto era assim mesmo quando existiam atrasos; uma atitude que, diga-se, nem todos teriam.
Além disto, houve as mudanças de alinhamento no palco da piscina, reveladas por vezes literalmente em cima da hora. Os atrasos foram, aliás, frequentes ao longo do festival, sendo ainda assim de louvar a forma como foi tratado o assunto: no recinto principal, onde estava o palco Milhões e o palco Vice, os concertos de cada palco só começavam após ter terminado que estava a decorrer no outro. Desta forma, era possível ver todos os concertos, do início ao fim, no recinto. E isto era assim mesmo quando existiam atrasos; uma atitude que, diga-se, nem todos teriam.
 Em relação à comida… muitos se queixavam que, no recinto, apenas se podiam comer cachorros (cachorrões, aliás), mas mesmo perto da entrada havia uma banca que vendia hamburgueres, cachorros, bifanas e etc., e, não muito longe, existiam vários restaurantes. Tendo em conta que só no primeiro dia é que vi fila para entrar, era facílimo entrar e sair do recinto a horas de jantar para comer o que quer que fosse. E havia ainda um multibanco literalmente em frente, do outro lado da estrada. Melhor localização era impossível.
Em relação à comida… muitos se queixavam que, no recinto, apenas se podiam comer cachorros (cachorrões, aliás), mas mesmo perto da entrada havia uma banca que vendia hamburgueres, cachorros, bifanas e etc., e, não muito longe, existiam vários restaurantes. Tendo em conta que só no primeiro dia é que vi fila para entrar, era facílimo entrar e sair do recinto a horas de jantar para comer o que quer que fosse. E havia ainda um multibanco literalmente em frente, do outro lado da estrada. Melhor localização era impossível.
 E haverá festival mais confortável que este, onde se pode andar calmamente por todo o recinto, que mesmo quando está cheio nunca se torna claustrofóbico? Aliás, o festival nunca esteve demasiado cheio (ficar na grade dum concerto nunca foi tão fácil) - uma maravilha. Para além de tudo, visitar Barcelos vale, por si só, o preço do passe.
E haverá festival mais confortável que este, onde se pode andar calmamente por todo o recinto, que mesmo quando está cheio nunca se torna claustrofóbico? Aliás, o festival nunca esteve demasiado cheio (ficar na grade dum concerto nunca foi tão fácil) - uma maravilha. Para além de tudo, visitar Barcelos vale, por si só, o preço do passe.
22 de Julho de 2011
 O início do festival, no palco da piscina, foi com os HILL, e dificilmente poderia ter sido melhor. Dupla com bateria e guitarra… presa à bateria, que toca consoante o reverb que vai recebendo, e que faz rock energético, barulhento e que se ouve sempre bem. A isto se alia um vocalista, João Guedes dos Sizo, com uma baqueta e um tambor, e temos um bom concerto feito. Já disse que a guitarra estava presa à bateria e tocava a partir do reverb? Que ideia genial. O palco da piscina é, aliás, um dos maiores trunfos do festival. Ouvir concertos dentro de água: melhor é impossível.
O início do festival, no palco da piscina, foi com os HILL, e dificilmente poderia ter sido melhor. Dupla com bateria e guitarra… presa à bateria, que toca consoante o reverb que vai recebendo, e que faz rock energético, barulhento e que se ouve sempre bem. A isto se alia um vocalista, João Guedes dos Sizo, com uma baqueta e um tambor, e temos um bom concerto feito. Já disse que a guitarra estava presa à bateria e tocava a partir do reverb? Que ideia genial. O palco da piscina é, aliás, um dos maiores trunfos do festival. Ouvir concertos dentro de água: melhor é impossível.
 Os Black Bombaim, que tocaram a seguir em substituição dos cancelados Föllakzoid, mostraram o porquê de serem um dos nomes em clara ascenção no nosso panorama. Rock instrumental stoner onde a guitarra impera, complementada por um excelente baixo e uma excelente bateria. Fica-se com pena que cada banda toque apenas cerca de meia-hora neste palco, com um concerto destes, entregue com energia e sem paragens. Vê-los a solo torna-se imediatamente uma necessidade.
Os Black Bombaim, que tocaram a seguir em substituição dos cancelados Föllakzoid, mostraram o porquê de serem um dos nomes em clara ascenção no nosso panorama. Rock instrumental stoner onde a guitarra impera, complementada por um excelente baixo e uma excelente bateria. Fica-se com pena que cada banda toque apenas cerca de meia-hora neste palco, com um concerto destes, entregue com energia e sem paragens. Vê-los a solo torna-se imediatamente uma necessidade.
 De seguida, vive-se uma aventura para achar o palco da Lovers & Lollypops, onde vão tocar os Botswana. Quando finalmente lá se chega, perto da hora em que o concerto deveria estar a terminar, este ainda nem começou. E quando começa, apercebemo-nos bem do quão mau é o local (não é de admirar que, ao longo de todo o festival, poucos tenham lá ido, salvo em raros concertos). O sol bate de frente, tornando impossível ver confortavelmente o concerto em frente ao palco, e o som está péssimo, levando Joca (provavelmente um dos melhores vocalistas da nossa história) e toda a banda no geral a queixarem-se frequentemente ao longo do espectáculo. Por vezes desaparece a bateria, noutras as guitarras, noutras a voz… E ao que parece, o encarregue pelo som não era sequer técnico (então, Milhões?). Ainda assim, a banda soube dar a volta, dando um bom concerto onde o seu rock emergiu acima de tudo, com o vocalista a cantar perto do público e a banda (que mal cabia naquele palco minúsculo) a tocar na perfeição cada tema. Pediam-se condições melhores, mas não deixou de ser um bom concerto. Como seria de esperar.
De seguida, vive-se uma aventura para achar o palco da Lovers & Lollypops, onde vão tocar os Botswana. Quando finalmente lá se chega, perto da hora em que o concerto deveria estar a terminar, este ainda nem começou. E quando começa, apercebemo-nos bem do quão mau é o local (não é de admirar que, ao longo de todo o festival, poucos tenham lá ido, salvo em raros concertos). O sol bate de frente, tornando impossível ver confortavelmente o concerto em frente ao palco, e o som está péssimo, levando Joca (provavelmente um dos melhores vocalistas da nossa história) e toda a banda no geral a queixarem-se frequentemente ao longo do espectáculo. Por vezes desaparece a bateria, noutras as guitarras, noutras a voz… E ao que parece, o encarregue pelo som não era sequer técnico (então, Milhões?). Ainda assim, a banda soube dar a volta, dando um bom concerto onde o seu rock emergiu acima de tudo, com o vocalista a cantar perto do público e a banda (que mal cabia naquele palco minúsculo) a tocar na perfeição cada tema. Pediam-se condições melhores, mas não deixou de ser um bom concerto. Como seria de esperar.
 O atraso afecta todos os concertos seguintes, e é já com um largo atraso que começa Dirty Beaches. Samples, guitarra, e voz lo-fi são os elementos que compõem, e muito bem, a música de Alex Hungtai, que fez este ano uma pequena digressão pelo nosso país. Eram vários os corajosos que viam o concerto em frente ao palco, levando com o sol em cima, e Alex não tardou a ir com a guitarra para o meio do público. Foi com pena que se saiu do concerto ia este a meio, mas o atraso tramou os planos e começava daqui a nada um dos concertos obrigatórios do dia: Riding Pânico, no palco Vice.
O atraso afecta todos os concertos seguintes, e é já com um largo atraso que começa Dirty Beaches. Samples, guitarra, e voz lo-fi são os elementos que compõem, e muito bem, a música de Alex Hungtai, que fez este ano uma pequena digressão pelo nosso país. Eram vários os corajosos que viam o concerto em frente ao palco, levando com o sol em cima, e Alex não tardou a ir com a guitarra para o meio do público. Foi com pena que se saiu do concerto ia este a meio, mas o atraso tramou os planos e começava daqui a nada um dos concertos obrigatórios do dia: Riding Pânico, no palco Vice.
Rock instrumental da pesada, onde as guitarras e a bateria (aqui comandada por Chris Common, dos These Arms Are Snakes) dão descargas de energia do início ao fim. E como poderia não ser assim, com músicas como "E Se a Bela For o Monstro?"? Nunca é demais falar da bateria, tocada de forma impressionante por um Chris Common monstruoso. Uma descarga total de som, em que tudo se conjugava na perfeição. Resta fazer figas para que voltem no próximo Milhões. Ou então apenas para que voltem, ponto.
A festa continuou feita por gente de cá, logo a seguir, quando os Born a Lion subiram ao palco Milhões. Blues com veia muito rock, num concerto que surpreendeu pela sua potência (isto em disco não era assim!) e pela prestação exemplar de todos os músicos sem excepção. Rodrigues, um excelente baterista-vocalista (haverá coisa mais espectacular?), é um animal de palco que vai fazendo a ponte banda-público, falando naquele seu brasileiro tão característico, do Milhões de Festa e do memorável que os próximos dias vão ser. A banda, desaparecida dos palcos há algum tempo, revela ter assinado pela Lovers & Lollypops, e é portanto de esperar um regresso em grande. Por agora fica uma constatação: estão em excelente forma e deram um belíssimo concerto.
 No final seguiu-se Motornoise no palco Vice. Metal repetitivo, pouco original, que vale apenas pelo vocalista que se atira para o público e bebe do início ao fim. A subtileza não é um dos fortes da banda (“Esta canção é sobre bêbados, e chama-se… Podres de Bêbados”), e são apenas mais uma banda, igual a tantas outras, que não convence particularmente em nada. Os poucos presentes, no entanto, pareceram convencidos.
No final seguiu-se Motornoise no palco Vice. Metal repetitivo, pouco original, que vale apenas pelo vocalista que se atira para o público e bebe do início ao fim. A subtileza não é um dos fortes da banda (“Esta canção é sobre bêbados, e chama-se… Podres de Bêbados”), e são apenas mais uma banda, igual a tantas outras, que não convence particularmente em nada. Os poucos presentes, no entanto, pareceram convencidos.
 Mais convencidos que em AEthenor, talvez a banda mais experimental que passou pelo festival, e que falhou apenas por estar a tocar num ambiente que não era, de forma alguma, o melhor para a sua música. Música ambiente, instrumental, que vive de camadas que se vão desenrolando ao longo de imenso tempo, nunca chegando a um clímax definido. Isto, num festival, de dia, simplesmente não resulta. O público, sentado, não parecia reagir, e percebia-se: é difícil criar o tipo de concentração (ou de ligação, diga-se) necessário para que este tipo de música funcione, num festival, neste ambiente. Alguém que os traga a um sítio pequeno e íntimo, e teremos sem dúvida um belo concerto; aqui, por outro lado, não resultou. É que nem sequer de noite era…
Mais convencidos que em AEthenor, talvez a banda mais experimental que passou pelo festival, e que falhou apenas por estar a tocar num ambiente que não era, de forma alguma, o melhor para a sua música. Música ambiente, instrumental, que vive de camadas que se vão desenrolando ao longo de imenso tempo, nunca chegando a um clímax definido. Isto, num festival, de dia, simplesmente não resulta. O público, sentado, não parecia reagir, e percebia-se: é difícil criar o tipo de concentração (ou de ligação, diga-se) necessário para que este tipo de música funcione, num festival, neste ambiente. Alguém que os traga a um sítio pequeno e íntimo, e teremos sem dúvida um belo concerto; aqui, por outro lado, não resultou. É que nem sequer de noite era…
 Shit and Shine foi monótono e repetitivo ao início, ainda que fosse interessante ver aquele quarteto em palco, vestidos daquela forma (dois coelhos e um que parecia a rapariga assustadora do The Ring… mas de roupão). Electrónica que parecia não ir a lado nenhum, sem construção nem clímax. Mas, infelizmente, não posso comentar: foi o único concerto de que saí a meio para ir finalmente comer alguma coisa, e parece que depois aquilo deu a volta e ficou muito mais dançável. O que vi, não convenceu, mas acredito que, mais à frente, tenha ficado bem melhor.
Shit and Shine foi monótono e repetitivo ao início, ainda que fosse interessante ver aquele quarteto em palco, vestidos daquela forma (dois coelhos e um que parecia a rapariga assustadora do The Ring… mas de roupão). Electrónica que parecia não ir a lado nenhum, sem construção nem clímax. Mas, infelizmente, não posso comentar: foi o único concerto de que saí a meio para ir finalmente comer alguma coisa, e parece que depois aquilo deu a volta e ficou muito mais dançável. O que vi, não convenceu, mas acredito que, mais à frente, tenha ficado bem melhor.
Zun Zun Egui, que tocaram no palco Milhões em vez do Vice, como seria previsto, e antes dos Gama Bomb e não depois, deram um concerto agradável, por vezes energético, que só perto do fim começou a cair no aborrecimento. Uma espécie de pop-rock (não gosto do termo, mas há bandas em que assenta bem) com toques de psicadelismo, que em disco soa a lo-fi, mas que ao vivo perde essa dimensão e ganha antes uma veia mais rockeira. O vocalista, uma figura caricata, depois andou pelo recinto durante o resto do festival, frequentemente bêbado, tendo proporcionado, pelo que me contaram, algumas histórias curiosas na piscina. Eu vi lá o Hélio, já foi bom.
 Os Gama Bomb foram, basicamente, o concerto mais cliché e divertido do Milhões (e, também, o primeiro a conseguir juntar realmente muita gente em frente ao palco). No bom e no mau sentido. Um vocalista à metal clássico, que lança agudos a torto e a direito (e nós respondiamos com risadas), riffs iguais a tantos outros, e músicos de cabelo comprido com aqueles fatos que são regulares no género. Parecia um concerto de Mastodon, mas… bem, em mau. Mas lá está: daquele mau que chega a ser bom. A verdade é que a própria banda não se parece levar muito a sério, e o vocalista, sempre comunicativo, ajudou (hilariante, o momento em que o público repetiu um grito seu, daqueles agudos, e este respondeu com um “Wow, isso foi uma coisa à Queen. Os Queen estão aqui hoje!”). Divertido, talvez não pelas melhores razões, mas divertido na mesma.
Os Gama Bomb foram, basicamente, o concerto mais cliché e divertido do Milhões (e, também, o primeiro a conseguir juntar realmente muita gente em frente ao palco). No bom e no mau sentido. Um vocalista à metal clássico, que lança agudos a torto e a direito (e nós respondiamos com risadas), riffs iguais a tantos outros, e músicos de cabelo comprido com aqueles fatos que são regulares no género. Parecia um concerto de Mastodon, mas… bem, em mau. Mas lá está: daquele mau que chega a ser bom. A verdade é que a própria banda não se parece levar muito a sério, e o vocalista, sempre comunicativo, ajudou (hilariante, o momento em que o público repetiu um grito seu, daqueles agudos, e este respondeu com um “Wow, isso foi uma coisa à Queen. Os Queen estão aqui hoje!”). Divertido, talvez não pelas melhores razões, mas divertido na mesma.
Não há nada de particularmente interessante ou original nos Graveyard, mas fazem canções com uma competência e um bom gosto que ao vivo torna-se difícil não gostar. Os paralelismos com bandas de um rock clássico como, por exemplo, os Led Zeppelin (muita, muita gente com t-shirts deles neste concerto) torna-se inevitável, mas a sua música consegue nunca se tornar nem revivalista nem imitadora. Boa voz, boas guitarras, boas letras. Não há, à partida, nada de particularmente bom, mas ao vivo aguentam-se muitíssimo bem, acabando ainda assim por fartar um pouco os que não são fãs (que, pelo público, nem eram assim tantos). Bom concerto.
De seguida, começou a maior sequência de grandes concertos que se viu em todo o festival, e que fez deste primeiro dia o mais forte dos três: If Lucy Fell, Liars, Veados com Fome e Lobster (o melhor concerto do festival, mas já lá vamos).
 Os If Lucy Fell, que não tocavam há dois anos, voltaram e mostraram ser ainda aquilo que sempre foram: poderosos. Podemos falar do grande vocalista, Makoto Yagyu, que a certa altura vai até à mesa do som andando por cima do público, podemos falar do excelente baterista (Hélio Morais, está claro) que cobre cada canção de forma perfeita, podemos falar do bom baixista (Pedro Cobrado) que parece estar a viver a melhor noite da sua vida em palco, tal como o teclista (João Pereira) e podemos, acima de tudo, falar do monumental guitarrista (Rui Carvalho), que é incrível do início ao fim, dando descargas de guitarra que raramente voltariam a ser igualadas em todo o festival. Rock épico, forte e de arrepiar, num concerto que foi, como se esperava, espectacular. Resta agora saber o que farão no futuro.
Os If Lucy Fell, que não tocavam há dois anos, voltaram e mostraram ser ainda aquilo que sempre foram: poderosos. Podemos falar do grande vocalista, Makoto Yagyu, que a certa altura vai até à mesa do som andando por cima do público, podemos falar do excelente baterista (Hélio Morais, está claro) que cobre cada canção de forma perfeita, podemos falar do bom baixista (Pedro Cobrado) que parece estar a viver a melhor noite da sua vida em palco, tal como o teclista (João Pereira) e podemos, acima de tudo, falar do monumental guitarrista (Rui Carvalho), que é incrível do início ao fim, dando descargas de guitarra que raramente voltariam a ser igualadas em todo o festival. Rock épico, forte e de arrepiar, num concerto que foi, como se esperava, espectacular. Resta agora saber o que farão no futuro.
 Os Liars eram, a par das Electrelane, os dois grandes cabeças-de-cartaz do festival. Quem esperava um concerto monumental, dos melhores do ano, talvez tenha ficado desiludido; mas quem esperava um concerto de excelência, com uma energia sem fim por vezes apenas mandada abaixo por alguns momentos mais parados, terá tido mais sorte. Um concerto espectacular, com momentos melhores que outros (nada bateu a "Plaster Casts of Everything", já perto do fim e "Broken Witch", claro, também foi um momento magnífico), mas que esteve bem acima da média e que foi, frequentemente, perto da genialidade. Pura energia, puro rock, puro caos com direito a moche e afins, e um vocalista tão caricato e envolvido no que faz que o concerto teria valido só para o ver em palco. O público, dos maiores que o festival viu, já sabia bem ao que vinha, e pareceu mais que satisfeito no final.
Os Liars eram, a par das Electrelane, os dois grandes cabeças-de-cartaz do festival. Quem esperava um concerto monumental, dos melhores do ano, talvez tenha ficado desiludido; mas quem esperava um concerto de excelência, com uma energia sem fim por vezes apenas mandada abaixo por alguns momentos mais parados, terá tido mais sorte. Um concerto espectacular, com momentos melhores que outros (nada bateu a "Plaster Casts of Everything", já perto do fim e "Broken Witch", claro, também foi um momento magnífico), mas que esteve bem acima da média e que foi, frequentemente, perto da genialidade. Pura energia, puro rock, puro caos com direito a moche e afins, e um vocalista tão caricato e envolvido no que faz que o concerto teria valido só para o ver em palco. O público, dos maiores que o festival viu, já sabia bem ao que vinha, e pareceu mais que satisfeito no final.
 Menos público tiveram os Veados com Fome, que deixaram saudades naquele que foi, ao que tudo indica, o seu último concerto de sempre. Um som poderoso (estava tudo mais alto que o normal, e ainda bem), onde é impressionante o que um trio consegue fazer. Post-rock potente, rápido e ríspido, onde a guitarra grita acima de tudo, sempre com um baterista com tanto talento quanto carisma (Cavalheiro, herói nacional). Canções como "Ultramar" ou "Paquito" (tocadas num mashup) são sempre incríveis, sempre arrepiantes. Um dos concertos mais envolventes do festival, em que a potência do som e das suas canções foi o que mais interessou. Raios, vão fazer tanta falta.
Menos público tiveram os Veados com Fome, que deixaram saudades naquele que foi, ao que tudo indica, o seu último concerto de sempre. Um som poderoso (estava tudo mais alto que o normal, e ainda bem), onde é impressionante o que um trio consegue fazer. Post-rock potente, rápido e ríspido, onde a guitarra grita acima de tudo, sempre com um baterista com tanto talento quanto carisma (Cavalheiro, herói nacional). Canções como "Ultramar" ou "Paquito" (tocadas num mashup) são sempre incríveis, sempre arrepiantes. Um dos concertos mais envolventes do festival, em que a potência do som e das suas canções foi o que mais interessou. Raios, vão fazer tanta falta.
 Os Veados com Fome foram uma das duas bandas que marcaram o início da Lovers & Lollypops. A outra banda, e um dos outros grandes regressos da noite, são os Lobster, duo maravilha consituído por Guilherme Canhão (um guitarrista incomparável no nosso panorama, também parte dos Tigrala e dos grandes Sunflare) e Ricardo Martins (baterista igualmente incomparável). Mais vale ser directo e simplista: foi o concerto do festival, e um concerto incrível do início ao fim. Tocaram foram do palco, no chão, no meio do público, e o que se viveu foi não tanto um concerto mas mais uma pura experiência de comunhão como só eles, neste festival, poderiam dar. Foi, diga-se, lindíssimo. Não por ser música bonita, mas por ser música vivida tal como o deve ser e como raramente é. Foram putos a fazer música para outros putos que a querem ouvir com toda a alma e coração, que fazem crowdsurfing e moche mas sempre como se estivessem entre amigos.
Os Veados com Fome foram uma das duas bandas que marcaram o início da Lovers & Lollypops. A outra banda, e um dos outros grandes regressos da noite, são os Lobster, duo maravilha consituído por Guilherme Canhão (um guitarrista incomparável no nosso panorama, também parte dos Tigrala e dos grandes Sunflare) e Ricardo Martins (baterista igualmente incomparável). Mais vale ser directo e simplista: foi o concerto do festival, e um concerto incrível do início ao fim. Tocaram foram do palco, no chão, no meio do público, e o que se viveu foi não tanto um concerto mas mais uma pura experiência de comunhão como só eles, neste festival, poderiam dar. Foi, diga-se, lindíssimo. Não por ser música bonita, mas por ser música vivida tal como o deve ser e como raramente é. Foram putos a fazer música para outros putos que a querem ouvir com toda a alma e coração, que fazem crowdsurfing e moche mas sempre como se estivessem entre amigos.  Efectivamente, foi isso: dezenas e dezenas de conhecidos, todos ali para o mesmo. Difícil explicar, para quem não esteve lá. E depois houve claro, a música, ainda tão perfeita, tão espontânea mas tão tecnicamente incrível apesar das quedas de som, entregue por dois dos melhores da sua geração (não há volta a dar, são mesmo), que têm entre si uma química espantosa e tocam como mais ninguém o faz. Concerto do festival, dos concertos do ano (e olhem que este ano os Swans, os Arcade Fire e até o Roger Waters já passaram por cá), e uma experiência incrível. A música é isto, e é assim que um concerto deve ser. Uma epifania.
Efectivamente, foi isso: dezenas e dezenas de conhecidos, todos ali para o mesmo. Difícil explicar, para quem não esteve lá. E depois houve claro, a música, ainda tão perfeita, tão espontânea mas tão tecnicamente incrível apesar das quedas de som, entregue por dois dos melhores da sua geração (não há volta a dar, são mesmo), que têm entre si uma química espantosa e tocam como mais ninguém o faz. Concerto do festival, dos concertos do ano (e olhem que este ano os Swans, os Arcade Fire e até o Roger Waters já passaram por cá), e uma experiência incrível. A música é isto, e é assim que um concerto deve ser. Uma epifania.
O primeiro dia terminou, assim, da melhor forma possível (ainda houve D.I.S.C.O.Texas Gang depois, parece, mas depois de Lobster o descanso era essencial), e como nunca mais veria a terminar. O primeiro e melhor dia do festival tinha terminado com muito suor, provavelmente algumas lágrimas (raios, aquilo foi uma experiência de amor) e vários sorrisos de orelha a orelha. Foi assim que fomos todos dormir, nessa mesma noite, não só pelo dia que se tinha vivido, mas também por um facto inegável: amanhã havia mais.
23 de Julho de 2011
O primeiro concerto, após mudanças e atrasos na piscina, acaba por ser o dos Indignu, no palco da Lovers & Lollypops (aquele tal que basicamente é um toldo). Rock bem feito, ora instrumental ora com toques de voz, que mostram talento na construção de canções. Uma convidada com violino resultou muitíssimo bem, e no final fica-se apenas com pena da redução que o concerto teve de sofrer, devido aos atrasos existentes.
 Volta-se para a piscina e os Long Way to Alaska são os próximos, depois da destruição massiva dos Mr. Miyagi. Não são revelação nenhuma para quem anda atento (estão em clara ascenção), e ao vivo conseguem fazer crescer as já em disco lindíssimas canções de "Eastriver", o belo álbum de estreia. Multi-instrumentalistas natos que vão trocando entre si, tocando músicas que evocam por si só cenários relaxantes que, ali na piscina, ganharam uma força ainda maior. Sugere-se uma digressão feita pelas piscinas do país inteiro. Estes rapazes sabem mesmo o que fazem.
Volta-se para a piscina e os Long Way to Alaska são os próximos, depois da destruição massiva dos Mr. Miyagi. Não são revelação nenhuma para quem anda atento (estão em clara ascenção), e ao vivo conseguem fazer crescer as já em disco lindíssimas canções de "Eastriver", o belo álbum de estreia. Multi-instrumentalistas natos que vão trocando entre si, tocando músicas que evocam por si só cenários relaxantes que, ali na piscina, ganharam uma força ainda maior. Sugere-se uma digressão feita pelas piscinas do país inteiro. Estes rapazes sabem mesmo o que fazem.
 Os Tigrala abriram o palco Milhões e melhor início teria sido difícil. Diversas influências num género musical que se baseia em duas guitarras e na percussão para fazer canções ora energéticas, ora calmas, mas sempre surpreendentes (nunca sabemos bem o que vai suceder a seguir). Um belo concerto, como seria de esperar, tendo em conta os três músicos envolvidos: Guilherme Canhão, Ian Carlos Mendoza e Norberto Lobo. Foi bonito ver o público a chegar a meio e a ficar imediatamente conquistado, sentando-se onde quer que fosse para ouvir o que vinha do palco. Sem falhas.
Os Tigrala abriram o palco Milhões e melhor início teria sido difícil. Diversas influências num género musical que se baseia em duas guitarras e na percussão para fazer canções ora energéticas, ora calmas, mas sempre surpreendentes (nunca sabemos bem o que vai suceder a seguir). Um belo concerto, como seria de esperar, tendo em conta os três músicos envolvidos: Guilherme Canhão, Ian Carlos Mendoza e Norberto Lobo. Foi bonito ver o público a chegar a meio e a ficar imediatamente conquistado, sentando-se onde quer que fosse para ouvir o que vinha do palco. Sem falhas.
 Kim Ki O foi cancelado (tocou no dia a seguir, na piscina), e por isso o que se seguiu foram os excelentes Causa Sui, banda de rock instrumental que foram, talvez, a grande surpresa de todo o festival. Um público numeroso que não os conhecia mas que ficou rendido do início ao fim, e com razão. Vê-los a tocar (ainda por cima foi no lusco-fusco!) foi uma belíssima surpresa. Um nome a ter em atenção, que com sorte há-de chegar cá a solo em breve. Um dos concertos do dia.
Kim Ki O foi cancelado (tocou no dia a seguir, na piscina), e por isso o que se seguiu foram os excelentes Causa Sui, banda de rock instrumental que foram, talvez, a grande surpresa de todo o festival. Um público numeroso que não os conhecia mas que ficou rendido do início ao fim, e com razão. Vê-los a tocar (ainda por cima foi no lusco-fusco!) foi uma belíssima surpresa. Um nome a ter em atenção, que com sorte há-de chegar cá a solo em breve. Um dos concertos do dia.
 Millionyoung não foi mau, mas não devia estar ali. Devia estar a tocar a fechar o dia, às tantas da manhã, com gente a dançar em frente ao palco. Electro-pop que não se destaca, mas que não aborrece… ou pelo menos não aborreceria, noutro contexto. Ali, não resultou particularmente bem, e isso via-se nem que fosse pelos poucos presentes em frente ao palco. Um concerto que deveria ter acontecido, mas não ali, naquele palco, nem àquelas horas.
Millionyoung não foi mau, mas não devia estar ali. Devia estar a tocar a fechar o dia, às tantas da manhã, com gente a dançar em frente ao palco. Electro-pop que não se destaca, mas que não aborrece… ou pelo menos não aborreceria, noutro contexto. Ali, não resultou particularmente bem, e isso via-se nem que fosse pelos poucos presentes em frente ao palco. Um concerto que deveria ter acontecido, mas não ali, naquele palco, nem àquelas horas.
 Os Kafka afirmavam-se como um dos grandes regressos do festival, mas passaram despercebidos. Os que assistiam ao concerto não pareciam ser fãs, e não foi uma plateia particularmente composta ou efusiva que os recebeu. Post-punk (ecos de Swans, paralelismos com os Mão Morta) que convence, mas não vai muito mais além disso; e um vocalista com presença e energia, mas que não convence nada quando abre a boca. Nunca aborreceu, mas também nunca convenceu por aí além, foi, apenas, mais um concerto. Bons músicos a fazer música que, no entanto, hoje em dia perdeu a originalidade que possuía há anos atrás.
Os Kafka afirmavam-se como um dos grandes regressos do festival, mas passaram despercebidos. Os que assistiam ao concerto não pareciam ser fãs, e não foi uma plateia particularmente composta ou efusiva que os recebeu. Post-punk (ecos de Swans, paralelismos com os Mão Morta) que convence, mas não vai muito mais além disso; e um vocalista com presença e energia, mas que não convence nada quando abre a boca. Nunca aborreceu, mas também nunca convenceu por aí além, foi, apenas, mais um concerto. Bons músicos a fazer música que, no entanto, hoje em dia perdeu a originalidade que possuía há anos atrás.
 Os Anti-Pop Consortium, que tiveram problemas técnicos antes do concerto e fizeram, a par das Electrolane, o maior soundcheck alguma vez visto em festival, atiraram ao público poesia feita com energia e excelentes beats à mistura. Hip-hop assim, feito tão bem e com palavras tão bem escolhidas, é cada vez mais raro, e foi uma plateia numerosa que recebeu de braços abertos o concerto do início ao fim. Beans, membro do trio, cantou sempre à berma do palco e arriscou até cantar uma canção no fosso, e o grupo parecia estar, de facto, a adorar estar ali em cima. Estilo (muito estilo), e excelente música num concerto exemplar, poesia musical, sem dúvida.
Os Anti-Pop Consortium, que tiveram problemas técnicos antes do concerto e fizeram, a par das Electrolane, o maior soundcheck alguma vez visto em festival, atiraram ao público poesia feita com energia e excelentes beats à mistura. Hip-hop assim, feito tão bem e com palavras tão bem escolhidas, é cada vez mais raro, e foi uma plateia numerosa que recebeu de braços abertos o concerto do início ao fim. Beans, membro do trio, cantou sempre à berma do palco e arriscou até cantar uma canção no fosso, e o grupo parecia estar, de facto, a adorar estar ali em cima. Estilo (muito estilo), e excelente música num concerto exemplar, poesia musical, sem dúvida.
 De seguida, uma surpresa: os Best Coast entraram em palco e…. ah… não, espera, eram as Vivian Girls. Bem, pelo que se viu em concerto, vai dar ao mesmo. Não faziam sentido no cartaz em geral e aquele rock cor-de-rosa não convence, acabando antes por aborrecer. Sim, já percebemos todos que malta nova a fazer lo-fi está na moda, mas então que o façam bem, em vez de parecerem uma mera colagem iguais a tantos outros grupos. No dia a seguir, já ninguém se lembrava delas. Mas valeu pelo “A sério? Queres que mostre as mamas? Mostra-nos tu as tuas mamas pouco atractivas!”. Yeah, you go girl.
De seguida, uma surpresa: os Best Coast entraram em palco e…. ah… não, espera, eram as Vivian Girls. Bem, pelo que se viu em concerto, vai dar ao mesmo. Não faziam sentido no cartaz em geral e aquele rock cor-de-rosa não convence, acabando antes por aborrecer. Sim, já percebemos todos que malta nova a fazer lo-fi está na moda, mas então que o façam bem, em vez de parecerem uma mera colagem iguais a tantos outros grupos. No dia a seguir, já ninguém se lembrava delas. Mas valeu pelo “A sério? Queres que mostre as mamas? Mostra-nos tu as tuas mamas pouco atractivas!”. Yeah, you go girl.
 Os Zu foram a banda que mais barulho fez em todo o festival. Saxofone, bateria, baixo e muito ruído. Se foi mais que apenas ruído? Bem, isso é subjectivo. A mim não convenceu, mas é inegável o mérito e a originalidade do que fazem. O público pareceu convencido, e o concerto, pelo que vejo agora, entrou no top de muitos como um dos melhores concertos do festival. Pessoalmente, não vi coordenação, não vi melodias, não vi música, mas outros (e não foram poucos) viram tudo isso e ainda mais. E isso, afinal, é que interessa. Rock pesado, muito pesado, que não agrada a todos.
Os Zu foram a banda que mais barulho fez em todo o festival. Saxofone, bateria, baixo e muito ruído. Se foi mais que apenas ruído? Bem, isso é subjectivo. A mim não convenceu, mas é inegável o mérito e a originalidade do que fazem. O público pareceu convencido, e o concerto, pelo que vejo agora, entrou no top de muitos como um dos melhores concertos do festival. Pessoalmente, não vi coordenação, não vi melodias, não vi música, mas outros (e não foram poucos) viram tudo isso e ainda mais. E isso, afinal, é que interessa. Rock pesado, muito pesado, que não agrada a todos.
 Os Secret Chiefs 3 vieram a seguir e deram aquilo que se esperava: um concertaço, facilmente um dos melhores do festival, e o melhor da noite (ao lado do de um certo senhor que actuou a seguir). Um caldeirão de referências, se influências, com canções ora exóticas, ora épicas (a Exodus…), tudo tecido na perfeição por um grupo de excelentes e impressionantes músicos. Tudo assenta na perfeição e, sejamos honestos, valeria tudo nem que fosse para os ver ali a tocar, em robes como se fossem de seitas, a divertirem-se com aquilo que fazem. Foi um concerto curto e concentrado, onde percorreram alguns dos seus melhores temas (nem faltou a cover do tema do Halloween), o que fez com que fosse, basicamente, um concerto consistentemente espectacular do início ao fim - vénias.
Os Secret Chiefs 3 vieram a seguir e deram aquilo que se esperava: um concertaço, facilmente um dos melhores do festival, e o melhor da noite (ao lado do de um certo senhor que actuou a seguir). Um caldeirão de referências, se influências, com canções ora exóticas, ora épicas (a Exodus…), tudo tecido na perfeição por um grupo de excelentes e impressionantes músicos. Tudo assenta na perfeição e, sejamos honestos, valeria tudo nem que fosse para os ver ali a tocar, em robes como se fossem de seitas, a divertirem-se com aquilo que fazem. Foi um concerto curto e concentrado, onde percorreram alguns dos seus melhores temas (nem faltou a cover do tema do Halloween), o que fez com que fosse, basicamente, um concerto consistentemente espectacular do início ao fim - vénias.
 E a seguir veio, senhoras e senhores, para um público francamente numeroso, o grande Bob Log III. Um tipo sozinho em palco, com guitarra e uma mini-bateria à frente onde bate com o pé (o Tigerman deve ser fã), vestido como se fosse um membro perdido dos Daft Punk. Rock, blues, tudo ali dado com muito suor, muita alma, muita presença e muito espectáculo. O público não parou quieto, e o senhor Bob também não, com canções rápidas e energéticas umas a seguir às outras. E meu Deus, que guitarrista. Sabia bem como interagir com o público, teve-nos na palma da mão do início ao fim, e deu facilmente um dos concertos do festival. “Senhoras e senhores, deixem-me apresentar-vos a banda” começa ele, perto do fim. “Em todos os instrumentos… EU!”. A one-man-band que foi uma das bandas do festival. Há talentos assim, que bastam por si só. E Bob Log III é um deles. Magnífico.
E a seguir veio, senhoras e senhores, para um público francamente numeroso, o grande Bob Log III. Um tipo sozinho em palco, com guitarra e uma mini-bateria à frente onde bate com o pé (o Tigerman deve ser fã), vestido como se fosse um membro perdido dos Daft Punk. Rock, blues, tudo ali dado com muito suor, muita alma, muita presença e muito espectáculo. O público não parou quieto, e o senhor Bob também não, com canções rápidas e energéticas umas a seguir às outras. E meu Deus, que guitarrista. Sabia bem como interagir com o público, teve-nos na palma da mão do início ao fim, e deu facilmente um dos concertos do festival. “Senhoras e senhores, deixem-me apresentar-vos a banda” começa ele, perto do fim. “Em todos os instrumentos… EU!”. A one-man-band que foi uma das bandas do festival. Há talentos assim, que bastam por si só. E Bob Log III é um deles. Magnífico.
Foi o último concerto do dia (para mim, leia-se), naquele que foi o pior do festival, e foi o fim perfeito. No dia a seguir, o palco da piscina ia enlouquecer, os atrasos iam voltar, mas os concertos seriam mais e melhores.
24 de Julho de 2011
 Último dia do milhões, último dia de festa. O melhor festival (em termos de experiência) chegou ao fim da melhor forma possível, com um último dia onde, esquecendo um palco na piscina onde de repente tudo enlouqueceu e o alinhamento das bandas mudou do nada, tudo correu bem.
Último dia do milhões, último dia de festa. O melhor festival (em termos de experiência) chegou ao fim da melhor forma possível, com um último dia onde, esquecendo um palco na piscina onde de repente tudo enlouqueceu e o alinhamento das bandas mudou do nada, tudo correu bem.
 Na piscina, tal como já se disse, o alinhamento mudou. As Pega Monstro eram para ser as primeiras, e passaram para muito mais tarde, devido à inclusão dos MKRNI e das Kim Ki O. As Kim Ki O, duas jovens raparigas que fazem electrónica com guitarra e sintetizadores, proporcionaram um belíssimo concerto, agradável e adorável, perfeito para ouvir no relaxamento da piscina ou enquanto se dança um pouco à beira da água.
Na piscina, tal como já se disse, o alinhamento mudou. As Pega Monstro eram para ser as primeiras, e passaram para muito mais tarde, devido à inclusão dos MKRNI e das Kim Ki O. As Kim Ki O, duas jovens raparigas que fazem electrónica com guitarra e sintetizadores, proporcionaram um belíssimo concerto, agradável e adorável, perfeito para ouvir no relaxamento da piscina ou enquanto se dança um pouco à beira da água.  Os MKRNI (ou Makaroni) são uma banda de electrónica dançável e exótica, tipicamente latina, e complementaram na perfeição a dupla que tocou antes. Foi um belíssimo início e uma óptima ideia, a de ter estas duas bandas a tocarem uma a seguir à outra, e proporcionaram ambas as bandas uma excelente tarde à beira da piscina. Coisas destas só no Milhões. Os Narwhal são também divertidos, mas um pouco mais… aborrecidos. Experimentação a mais e energia a menos para o que se esperava ser mais uma pequena festa aquática. Convenceram, ainda assim.
Os MKRNI (ou Makaroni) são uma banda de electrónica dançável e exótica, tipicamente latina, e complementaram na perfeição a dupla que tocou antes. Foi um belíssimo início e uma óptima ideia, a de ter estas duas bandas a tocarem uma a seguir à outra, e proporcionaram ambas as bandas uma excelente tarde à beira da piscina. Coisas destas só no Milhões. Os Narwhal são também divertidos, mas um pouco mais… aborrecidos. Experimentação a mais e energia a menos para o que se esperava ser mais uma pequena festa aquática. Convenceram, ainda assim.
 Os concertos no recinto principal começaram mais cedo neste último dia, e os primeiros a entrar em palco foram os Dear Telephone. Não tão pop quanto se tem dito por aí, fazem música calma, segura mas por vezes repetitiva, que se baseia, acima de tudo, na belíssila voz da vocalista. Um concerto que acabou por ir perdendo interesse ao longo da sua duração. Nem faltou uma cover do clássico "West End Girls", dos Pet Shop Boys, mas nem isso convenceu particularmente, tal como aquela canção nova, sem título, que não encerrou o concero da melhor forma. São competentes, mas esperava-se mais.
Os concertos no recinto principal começaram mais cedo neste último dia, e os primeiros a entrar em palco foram os Dear Telephone. Não tão pop quanto se tem dito por aí, fazem música calma, segura mas por vezes repetitiva, que se baseia, acima de tudo, na belíssila voz da vocalista. Um concerto que acabou por ir perdendo interesse ao longo da sua duração. Nem faltou uma cover do clássico "West End Girls", dos Pet Shop Boys, mas nem isso convenceu particularmente, tal como aquela canção nova, sem título, que não encerrou o concero da melhor forma. São competentes, mas esperava-se mais.
 Throes e The Shine foram o concerto que se seguiu, e foram uma das coisas mais originais e divertidas que se viu em todo o festival. Rock instrumental meets kuduru (chamava-se rockduru, diziam eles), num espectáculo onde se dançou do início ao fim, vendo-se em frente ao palco um público numeroso e convencido do início ao fim com o que viam.
Throes e The Shine foram o concerto que se seguiu, e foram uma das coisas mais originais e divertidas que se viu em todo o festival. Rock instrumental meets kuduru (chamava-se rockduru, diziam eles), num espectáculo onde se dançou do início ao fim, vendo-se em frente ao palco um público numeroso e convencido do início ao fim com o que viam.  A combinação resultou surpreendentemente bem, e o rock bem pensado e feito com talento dos Throes (que já mereciam estar num palco assim, grande) resultou na perfeição com o estilo irreverente e espontâneo dos The Shine, que têm de ser da dupla mais divertida na música portuguesa actual. Um novo concerto deles é obrigatório no próximo Milhões.
A combinação resultou surpreendentemente bem, e o rock bem pensado e feito com talento dos Throes (que já mereciam estar num palco assim, grande) resultou na perfeição com o estilo irreverente e espontâneo dos The Shine, que têm de ser da dupla mais divertida na música portuguesa actual. Um novo concerto deles é obrigatório no próximo Milhões.
 Dos Papa Topo, não há muito a dizer. “Fofinhos”, como bem dizia uma amiga, e nada mais. E basta, claro. Naquele que deve ter sido um dos concertos mais adoráveis de sempre, esta dupla espanhola deu um concerto para dançar e sorrir, sem pretensões nem qualquer tipo de brilhantismos. Foi divertido, foi agradável, e bastou. O público, infelizmente, não pareceu particularmente conquistado, ficando todo ele sentado durante o concerto, à excepção de algumas espanholas que dançavam em frente ao palco (uma delas de forma profundamente arrepiante) e de uns amigos que depois obriguei a dançar perto do fim (Milhões de Festa é para ter festa, raios!). “Parece música de filmes da Disney”, ouvi dizer, antes da vocalista ter explicado que “A próxima música é sobre fazer sexo no cinema”. Mais ou menos…
Dos Papa Topo, não há muito a dizer. “Fofinhos”, como bem dizia uma amiga, e nada mais. E basta, claro. Naquele que deve ter sido um dos concertos mais adoráveis de sempre, esta dupla espanhola deu um concerto para dançar e sorrir, sem pretensões nem qualquer tipo de brilhantismos. Foi divertido, foi agradável, e bastou. O público, infelizmente, não pareceu particularmente conquistado, ficando todo ele sentado durante o concerto, à excepção de algumas espanholas que dançavam em frente ao palco (uma delas de forma profundamente arrepiante) e de uns amigos que depois obriguei a dançar perto do fim (Milhões de Festa é para ter festa, raios!). “Parece música de filmes da Disney”, ouvi dizer, antes da vocalista ter explicado que “A próxima música é sobre fazer sexo no cinema”. Mais ou menos…
 Os FM Belfast, por seu lado, deram uma festa autêntica onde ninguém parou quieto. Electrónica azeiteira com imensa gente em palco, e música que são francamente más mas que, ao vivo, resultam francamente bem. A isto se alia uma banda energética, que obriga as pessoas a baixar e a saltar (literalmente, apontaram-me o dedo e obrigaram-me. A sério), e temos um concerto que, quer se goste quer não, é uma festa garantida.
Os FM Belfast, por seu lado, deram uma festa autêntica onde ninguém parou quieto. Electrónica azeiteira com imensa gente em palco, e música que são francamente más mas que, ao vivo, resultam francamente bem. A isto se alia uma banda energética, que obriga as pessoas a baixar e a saltar (literalmente, apontaram-me o dedo e obrigaram-me. A sério), e temos um concerto que, quer se goste quer não, é uma festa garantida.
 De seguida, uma estreia absoluta: We Trust. O projecto de André Tentugal estreou-se pela primeira vez nos palcos, e o saldo foi positivo, ainda que fosse de esperar mais. A verdade é que Time (Better Not Stop), o single lançado e que não sai da cabeça de sabe-se lá quanta gente, pôs as expectativas bem lá em cima, e estas não foram totalmente cumpridas. Se essa canção é audaz e foge ao normal do electro-pop, as restantes (pelo menos pelo que pareceu, ao vivo) encaixam na perfeição nessa categoria e, mesmo sendo agradáveis e providenciando um bom concerto, não impressionam.
De seguida, uma estreia absoluta: We Trust. O projecto de André Tentugal estreou-se pela primeira vez nos palcos, e o saldo foi positivo, ainda que fosse de esperar mais. A verdade é que Time (Better Not Stop), o single lançado e que não sai da cabeça de sabe-se lá quanta gente, pôs as expectativas bem lá em cima, e estas não foram totalmente cumpridas. Se essa canção é audaz e foge ao normal do electro-pop, as restantes (pelo menos pelo que pareceu, ao vivo) encaixam na perfeição nessa categoria e, mesmo sendo agradáveis e providenciando um bom concerto, não impressionam.  A banda, essa, é notável, com Gil Amado, o baterista/vocalista/guitarrista (já tinha dito que eles eram multi-instrumentalistas, não tinha?) dos Long Way to Alaska, o grande Rui Maia, teclista dos X-Wife, fazendo ainda parte do grupo o baterista dessa mesma banda e um teclista que foi professor do Pedro Abrunhosa. Há ainda arestas por limar, claro, mas no geral vê-se logo o talento envolvido… a falha parece estar, talvez, mesmo mais nas canções. Ainda assim, um bom concerto, e confirma-se: Time é, mesmo ao vivo, uma excelente canção.
A banda, essa, é notável, com Gil Amado, o baterista/vocalista/guitarrista (já tinha dito que eles eram multi-instrumentalistas, não tinha?) dos Long Way to Alaska, o grande Rui Maia, teclista dos X-Wife, fazendo ainda parte do grupo o baterista dessa mesma banda e um teclista que foi professor do Pedro Abrunhosa. Há ainda arestas por limar, claro, mas no geral vê-se logo o talento envolvido… a falha parece estar, talvez, mesmo mais nas canções. Ainda assim, um bom concerto, e confirma-se: Time é, mesmo ao vivo, uma excelente canção.
 De seguida, uma despedida. Os Green Machine, uma das mais notáveis bandas do nosso rock dos bons últimos anos, com um dos mais espectaculares vocalistas da nossa história (o grande, grande Joca aka João Pimenta), deram um dos concertos do festival e um que ficará na memória dos presentes por muito, muito tempo. Rock como só eles fazem, entregue como só eles conseguem, com um público efusivo perante a última oportunidade de ouvir aquelas canções ao vivo. A primeira vez que os vi foi na ZDB, e foi marcante; esta segunda e última voltou a sê-lo.
De seguida, uma despedida. Os Green Machine, uma das mais notáveis bandas do nosso rock dos bons últimos anos, com um dos mais espectaculares vocalistas da nossa história (o grande, grande Joca aka João Pimenta), deram um dos concertos do festival e um que ficará na memória dos presentes por muito, muito tempo. Rock como só eles fazem, entregue como só eles conseguem, com um público efusivo perante a última oportunidade de ouvir aquelas canções ao vivo. A primeira vez que os vi foi na ZDB, e foi marcante; esta segunda e última voltou a sê-lo.  Não há, simplesmente, mais ninguém como eles. Mostraram estar numa forma exemplar, e foi tudo o que se esperava: crowdsurfing e um público que não parava, músicos em estado de inspiração pura, e uma verdadeira experiência. Foram uma inspiração para muitos (não é do nada que os Glockenwise andavam por lá, a curtir mais que grande parte de todos os outros), e irão deixar muitas, muitas saudades.
Não há, simplesmente, mais ninguém como eles. Mostraram estar numa forma exemplar, e foi tudo o que se esperava: crowdsurfing e um público que não parava, músicos em estado de inspiração pura, e uma verdadeira experiência. Foram uma inspiração para muitos (não é do nada que os Glockenwise andavam por lá, a curtir mais que grande parte de todos os outros), e irão deixar muitas, muitas saudades.
 Uma despedida seguida de um regresso. As Electrelane eram o maior nome do cartaz, e foi uma sorte tê-las a tocar para nós neste festival, nesta pequena digressão de Verão que andam a fazer. O concerto só confirmou o que já se esperava: fizeram falta. Em modo mais rock e menos pop, percorreram os clássicos da sua discografia num concerto sempre consistente, que em nada foi minado com o facto de terem perdido metade do seu equipamento algures durante o voo e de terem tido de pedir instrumentos emprestados aos músicos do festival.
Uma despedida seguida de um regresso. As Electrelane eram o maior nome do cartaz, e foi uma sorte tê-las a tocar para nós neste festival, nesta pequena digressão de Verão que andam a fazer. O concerto só confirmou o que já se esperava: fizeram falta. Em modo mais rock e menos pop, percorreram os clássicos da sua discografia num concerto sempre consistente, que em nada foi minado com o facto de terem perdido metade do seu equipamento algures durante o voo e de terem tido de pedir instrumentos emprestados aos músicos do festival.  "Two For The Joy", "Bells" e a fabulosa "Eight Steps" (aquele teclado, aquele piano…) foram alguns dos temas tocados num concerto dado por um quarteto em excelente forma. Aliás, há algo quase de mágico em ver aquelas quatro raparigas em palco, a fazer tão bem o que fazem (grande imagem, aquela da vocalista, de cabelo comprido, a cantar enquanto uma rajada de vento lhe passa pelo corpo). Continuam iguais, continuam a fazer música ora lindíssima ora potente, e deram um dos concertos do festival e, certamente para muitos, um dos concertos do ano. Magnífico.
"Two For The Joy", "Bells" e a fabulosa "Eight Steps" (aquele teclado, aquele piano…) foram alguns dos temas tocados num concerto dado por um quarteto em excelente forma. Aliás, há algo quase de mágico em ver aquelas quatro raparigas em palco, a fazer tão bem o que fazem (grande imagem, aquela da vocalista, de cabelo comprido, a cantar enquanto uma rajada de vento lhe passa pelo corpo). Continuam iguais, continuam a fazer música ora lindíssima ora potente, e deram um dos concertos do festival e, certamente para muitos, um dos concertos do ano. Magnífico.
 Washed Out, projecto de Ernest Greene, encheu de seguida o mesmo palco com uma onda de chillwave com toques de synthpop. O seu belo disco, "Within and Without", foi bem recebido por todo o lado (sim, a Pitchfork gostou), e o concerto dado pelo músico e a sua banda (veio com mais gente atrás, felizmente, e até baterista tinha) não impressionou particularmente, mas mostrou potencial e deu a festa que se queria àquela hora da noite. Curiosamente, não pareciam ser muitos os que conheciam o projecto, mesmo tendo em conta o boom que sofreu com este primeiro disco, mas ainda assim o público (não tão numeroso como seria de esperar) não arredou pé do início ao fim. E, claro, coisas como "Eyes Be Closed" resultam muito bem ao vivo.
Washed Out, projecto de Ernest Greene, encheu de seguida o mesmo palco com uma onda de chillwave com toques de synthpop. O seu belo disco, "Within and Without", foi bem recebido por todo o lado (sim, a Pitchfork gostou), e o concerto dado pelo músico e a sua banda (veio com mais gente atrás, felizmente, e até baterista tinha) não impressionou particularmente, mas mostrou potencial e deu a festa que se queria àquela hora da noite. Curiosamente, não pareciam ser muitos os que conheciam o projecto, mesmo tendo em conta o boom que sofreu com este primeiro disco, mas ainda assim o público (não tão numeroso como seria de esperar) não arredou pé do início ao fim. E, claro, coisas como "Eyes Be Closed" resultam muito bem ao vivo.
 Os Foot Village são quatro baterias em círculo e gritos pelo meio. Sim, é mesmo a melhor premissa de todos os tempos para uma banda. E se a verdade é que não resultam tão bem quanto poderiam resultar (gritos a mais, baterias a menos), é também inegável que ao vivo é ainda assim algo quase espectacular, duma energia rara e com um grupo de gente que está ali mesmo para se divertir (aquela vocalista era espectacular). Pensem nos Paus, mas com gritos melhores e piores baterias. Acaba por não ser tão bom quanto se esperava (e foi um concerto bastante curto), mas foi bem bom mesmo assim.
Os Foot Village são quatro baterias em círculo e gritos pelo meio. Sim, é mesmo a melhor premissa de todos os tempos para uma banda. E se a verdade é que não resultam tão bem quanto poderiam resultar (gritos a mais, baterias a menos), é também inegável que ao vivo é ainda assim algo quase espectacular, duma energia rara e com um grupo de gente que está ali mesmo para se divertir (aquela vocalista era espectacular). Pensem nos Paus, mas com gritos melhores e piores baterias. Acaba por não ser tão bom quanto se esperava (e foi um concerto bastante curto), mas foi bem bom mesmo assim.
 De seguida, um dos maiores nomes do festival, e que teve à frente do palco aquela que foi, a par de Electrelane, a maior multidão: Radio Moscow. Rock à antiga, potente, com guitarras a destruir tudo por onde passam e malhas que tornam impossível estar parado. Tocaram quase sem paragens, com pouquíssimas palavras sem ser para apresentar as músicas e agradecer, e conseguiram assim concentrar um belo número de canções em pouco tempo. Tocam na perfeição ao vivo, numa perfeita coordenação entre cada músico, e foi bonito ver aquele público, que conhecia grande parte do alinhamento. Rock assim, clássico mas ao mesmo tempo moderno, é raro, e ao vivo os Radio Moscow (que já são nome regular por cá, felizmente) mostraram conseguir sustentar bem o belo trabalho que fazem em disco.
De seguida, um dos maiores nomes do festival, e que teve à frente do palco aquela que foi, a par de Electrelane, a maior multidão: Radio Moscow. Rock à antiga, potente, com guitarras a destruir tudo por onde passam e malhas que tornam impossível estar parado. Tocaram quase sem paragens, com pouquíssimas palavras sem ser para apresentar as músicas e agradecer, e conseguiram assim concentrar um belo número de canções em pouco tempo. Tocam na perfeição ao vivo, numa perfeita coordenação entre cada músico, e foi bonito ver aquele público, que conhecia grande parte do alinhamento. Rock assim, clássico mas ao mesmo tempo moderno, é raro, e ao vivo os Radio Moscow (que já são nome regular por cá, felizmente) mostraram conseguir sustentar bem o belo trabalho que fazem em disco.
 O meu último concerto do Milhões, quando os membros já doíam, as quatro da manhã não estavam assim tão longe, e a tenda chamava por mim, foi Comanechi aka “a banda punk espectacular daquela rapariga japonesa genial que em palco é um espectáculo”. Final melhor teria sido difícil, num concerto punk à moda antiga, com energia e uma vocalista que parte tudo por onde passa, mostrando estar a adorar estar ali em cima. O público está cansado, mas não o mostra: salta, grita, reage a cada acorde, a cada momento. O público do Milhões é assim (até a própria vocalista se mostrou surpreendida por estar tanta gente ainda no recinto).
O meu último concerto do Milhões, quando os membros já doíam, as quatro da manhã não estavam assim tão longe, e a tenda chamava por mim, foi Comanechi aka “a banda punk espectacular daquela rapariga japonesa genial que em palco é um espectáculo”. Final melhor teria sido difícil, num concerto punk à moda antiga, com energia e uma vocalista que parte tudo por onde passa, mostrando estar a adorar estar ali em cima. O público está cansado, mas não o mostra: salta, grita, reage a cada acorde, a cada momento. O público do Milhões é assim (até a própria vocalista se mostrou surpreendida por estar tanta gente ainda no recinto).
 Uma grande festa, com crowdsurfing e moche à mistura, daqueles que este festival gosta tanto de oferecer. Muito, muito divertido.
Uma grande festa, com crowdsurfing e moche à mistura, daqueles que este festival gosta tanto de oferecer. Muito, muito divertido.
E assim terminou, para mim, o Milhões de Festa. Um ambiente diferente daquele que se vê em qualquer outro festival, concertos como só ali se veriam, e três dias incríveis. Lobster, Green Machine, Electrelane, Veados com Fome, Liars… grandes momentos tornados melhores por serem vistos com um público daqueles, num ambiente inesquecível. Se houveram falhas? Claro que sim. Mas eram inevitáveis. Afinal de contas, o que seríamos nós sem as nossas? Qualquer um as tem, e o Milhões teria de as ter. Este é, afinal, o festival mais humano de Portugal. Um sítio de onde se sai com amizades feitas, ou amizades cimentadas, e com memórias que valem por toda uma vida. Senhoras e senhores, este é o Milhões de Festa.
Não foi, efectivamente, um festival: foram experiências, memórias que vão ficar.
E, para o ano, lá estaremos todos nós novamente. Para vivermos milhões de alegrias.
Reportagem Super Bock Super Rock 2011
- Festivais
- Festivais
- Acessos: 5669
 A 17ª edição do festival Super Bock Super Rock teve, de novo, lugar na Herdade do Cabeço da Flauta. O slogan devia ser “Meco, Pó e Rock n’ Roll”. Este ano, pouca gente deixou o lenço de pescoço em casa e o número de máscaras aumentou comparativamente ao ano passado. Na verdade, se ultrapassarmos o pesadelo que é chegar ao recinto e o pesadelo maior que é estar, de facto, lá, vemos que o festival tem tudo para ser um dos acontecimentos do ano: cabeças de cartaz enormes e um palco alternativo recheado de apostas em artistas novos e artistas que já provaram ter algo a dizer que merece realmente ser ouvido.
A 17ª edição do festival Super Bock Super Rock teve, de novo, lugar na Herdade do Cabeço da Flauta. O slogan devia ser “Meco, Pó e Rock n’ Roll”. Este ano, pouca gente deixou o lenço de pescoço em casa e o número de máscaras aumentou comparativamente ao ano passado. Na verdade, se ultrapassarmos o pesadelo que é chegar ao recinto e o pesadelo maior que é estar, de facto, lá, vemos que o festival tem tudo para ser um dos acontecimentos do ano: cabeças de cartaz enormes e um palco alternativo recheado de apostas em artistas novos e artistas que já provaram ter algo a dizer que merece realmente ser ouvido.
 No entanto, o recinto em si é a pedra no sapato de toda a gente. A quantidade de pó não deixa de surpreender e o espaço não é suficiente para albergar o número de passes que foram postos à venda este ano. As condições de som também não permitem este número absurdo de pessoas, tendo em conta que mais de metade dos espectadores do palco principal não ouviram quase nada de todos os concertos que ali se passaram. As melhorias não o são, na verdade: o chão em frente ao palco principal é inacreditável. Não há quem não tenha passado a maior parte dos concertos a raspar o chão e afastar troncos de madeira de tamanho considerável de modo a conseguir ter ambos os pés à mesma altura.
No entanto, o recinto em si é a pedra no sapato de toda a gente. A quantidade de pó não deixa de surpreender e o espaço não é suficiente para albergar o número de passes que foram postos à venda este ano. As condições de som também não permitem este número absurdo de pessoas, tendo em conta que mais de metade dos espectadores do palco principal não ouviram quase nada de todos os concertos que ali se passaram. As melhorias não o são, na verdade: o chão em frente ao palco principal é inacreditável. Não há quem não tenha passado a maior parte dos concertos a raspar o chão e afastar troncos de madeira de tamanho considerável de modo a conseguir ter ambos os pés à mesma altura.
Mas as pessoas estão lá pela música. E a música, apesar de tudo o resto, é boa.
 Coube aos Sean Riley & The Slowriders as honras de inauguração do palco principal (e de todo o festival). O trânsito não nos deixou chegar a tempo de avaliar a prestação da banda de Leiria, mas soubemos que “It’s Been a Long Night” ficou muito bem representado, apesar das falhas de som que levou a banda a oferecer abraços pelo público.
Coube aos Sean Riley & The Slowriders as honras de inauguração do palco principal (e de todo o festival). O trânsito não nos deixou chegar a tempo de avaliar a prestação da banda de Leiria, mas soubemos que “It’s Been a Long Night” ficou muito bem representado, apesar das falhas de som que levou a banda a oferecer abraços pelo público.
 À nossa chegada - com uma pequena corridinha para chegar a tempo - estavam também os The Glockenwise a entrar em palco. Vindos directamente de Barcelos, têm-se mostrado um pouco por todo o pais. O cheirinho a Milhões de Festa (festival que o vocalista Nuno Rodrigues fez questão de publicitar, sem papas na língua) sentia-se um pouco no ar mal os víssemos a eles e a El Guincho em cartaz. Building Waves ainda tem cartas para dar. Por mais apresentado que esteja um disco, uma coisa que puxa ao mexer de pés como este puxa, não é coisa para se deixar na gaveta (como insistem em deixa o EP de estreia).
À nossa chegada - com uma pequena corridinha para chegar a tempo - estavam também os The Glockenwise a entrar em palco. Vindos directamente de Barcelos, têm-se mostrado um pouco por todo o pais. O cheirinho a Milhões de Festa (festival que o vocalista Nuno Rodrigues fez questão de publicitar, sem papas na língua) sentia-se um pouco no ar mal os víssemos a eles e a El Guincho em cartaz. Building Waves ainda tem cartas para dar. Por mais apresentado que esteja um disco, uma coisa que puxa ao mexer de pés como este puxa, não é coisa para se deixar na gaveta (como insistem em deixa o EP de estreia).  O concerto teve início com “It’s Not a Dead End But It Most Certainly Looks Like One”, música que termina o primeiro longa duração do quarteto. “Local Song for Local People” e “Stay Irresponsible” foram as responsáveis por o espaço em frente ao palco se começar a compor, a última foi a responsável pela guitarra do Rafa desistir (como viria a acontecer pelo menos mais três vezes durante o concerto – tudo culpa da correia).
O concerto teve início com “It’s Not a Dead End But It Most Certainly Looks Like One”, música que termina o primeiro longa duração do quarteto. “Local Song for Local People” e “Stay Irresponsible” foram as responsáveis por o espaço em frente ao palco se começar a compor, a última foi a responsável pela guitarra do Rafa desistir (como viria a acontecer pelo menos mais três vezes durante o concerto – tudo culpa da correia).  Curiosos e fãs (vindos de Barroselas e de Barcelos) enchiam um recinto que se iria tornando cada vez mais pequeno. Uma banda já de si muito simpática, agradeceu a toda a gente por os ter ido ver, confessando não esperar um público tão grande. Até o mosh teve espaço, em “Columbine (Out of this Town)” ou “Scumbag”. Sem lhes tirar o mérito devido, o público teve certamente um papel fulcral na boa prestação dos barcelenses que pisavam pela primeira vez um festival “grande”.
Curiosos e fãs (vindos de Barroselas e de Barcelos) enchiam um recinto que se iria tornando cada vez mais pequeno. Uma banda já de si muito simpática, agradeceu a toda a gente por os ter ido ver, confessando não esperar um público tão grande. Até o mosh teve espaço, em “Columbine (Out of this Town)” ou “Scumbag”. Sem lhes tirar o mérito devido, o público teve certamente um papel fulcral na boa prestação dos barcelenses que pisavam pela primeira vez um festival “grande”.
 Pelas 20h20, entram em palco os The Walkmen. Os norte-americanos estavam felizes por regressar e por ter tanta gente a assistir ao espectáculo. «We love it here, we named our álbum after the place!», grita o vocalista Hamilton Leithauser mencionando o álbum Lisbon da banda. A abrir, “On the Water”. O público já estava rendido e os fãs eram muitos. “Woe Is Me” seguiu-se-lhe enquanto mais e mais gente se reunia para ver a banda. Os fãs sabiam as letras e “In the New Year” mostrou isso mesmo.
Pelas 20h20, entram em palco os The Walkmen. Os norte-americanos estavam felizes por regressar e por ter tanta gente a assistir ao espectáculo. «We love it here, we named our álbum after the place!», grita o vocalista Hamilton Leithauser mencionando o álbum Lisbon da banda. A abrir, “On the Water”. O público já estava rendido e os fãs eram muitos. “Woe Is Me” seguiu-se-lhe enquanto mais e mais gente se reunia para ver a banda. Os fãs sabiam as letras e “In the New Year” mostrou isso mesmo.  A banda equilibrou temas antigos e temas recentes. Tocaram uma música nova, composta há semanas, ainda sem nome, que foi bem recebida pelos espectadores. Logo a seguir, a primeira música escrita pela banda – “We’ve Been Had” – bem conhecida de todos. Para o fim, depois da apresentação da banda, ficou “The Rat”, a favorita do público. A letra não falhou a ninguém e as palmas acompanhavam a bateria efervescente de Matt Barrick. A fechar o concerto esteve “All Hands and the Cook”.
A banda equilibrou temas antigos e temas recentes. Tocaram uma música nova, composta há semanas, ainda sem nome, que foi bem recebida pelos espectadores. Logo a seguir, a primeira música escrita pela banda – “We’ve Been Had” – bem conhecida de todos. Para o fim, depois da apresentação da banda, ficou “The Rat”, a favorita do público. A letra não falhou a ninguém e as palmas acompanhavam a bateria efervescente de Matt Barrick. A fechar o concerto esteve “All Hands and the Cook”.
 Há quem diga que John Lennon voltou, e que lançou um disco na Austrália. Ouvindo Innespeaker, percebemos porquê. Era chegada a vez de “uma das melhores bandas do mundo” (segundo o Nuno dos The Glockenwise). Os Tame Impala chegam-nos directamente da terra dos cangurus com um disco ainda fresco apesar de ter mais de um ano, a estrear o palco EDP de nomes internacionais. Largamente aplaudidos à chegada, entram timidamente com “Why Won’t You Make Up Your Mind?”, com alguns problemas de som.
Há quem diga que John Lennon voltou, e que lançou um disco na Austrália. Ouvindo Innespeaker, percebemos porquê. Era chegada a vez de “uma das melhores bandas do mundo” (segundo o Nuno dos The Glockenwise). Os Tame Impala chegam-nos directamente da terra dos cangurus com um disco ainda fresco apesar de ter mais de um ano, a estrear o palco EDP de nomes internacionais. Largamente aplaudidos à chegada, entram timidamente com “Why Won’t You Make Up Your Mind?”, com alguns problemas de som.  É que nem todo o palco está pronto para este tipo de psicadelismo, com guitarras a soar a plástico e no entanto tão perfeitamente arranhadas. Durante “Solitude is Bliss”, uma multidão bem feita entoava baixinho as letras do single. “It Is Not Meant to Be” preparava-nos para “Alter Ego”, o momento mais dançável do concerto - para alguns, houve bem quem não parasse durante “Desire Be Desire Go” em versão extended. "É de lamentar que ainda haja público a achar que tem piada apontar lasers aos músicos": Se não teve piada nenhuma durante Iggy Pop no Alive!, durante “Island Walking” teve ainda menos. Os australianos despedem-se com “Half Full Glass of Wine”, esperemos que para voltar em breve.
É que nem todo o palco está pronto para este tipo de psicadelismo, com guitarras a soar a plástico e no entanto tão perfeitamente arranhadas. Durante “Solitude is Bliss”, uma multidão bem feita entoava baixinho as letras do single. “It Is Not Meant to Be” preparava-nos para “Alter Ego”, o momento mais dançável do concerto - para alguns, houve bem quem não parasse durante “Desire Be Desire Go” em versão extended. "É de lamentar que ainda haja público a achar que tem piada apontar lasers aos músicos": Se não teve piada nenhuma durante Iggy Pop no Alive!, durante “Island Walking” teve ainda menos. Os australianos despedem-se com “Half Full Glass of Wine”, esperemos que para voltar em breve.
 Dois anos depois, The Kooks estavam de volta a Portugal. Na bagagem vinham temas novos do álbum ainda por lançar Junk of the Heart. Uma multidão sem fim reunia-se pelo recinto do palco principal para ver a banda de Brighton. Temas como “She Moves in Her Own Way”, retirada do primeiro álbum da banda e conhecida de todos, ou “Seaside” mostraram como as letras estavam ainda na memória dos fãs.
Dois anos depois, The Kooks estavam de volta a Portugal. Na bagagem vinham temas novos do álbum ainda por lançar Junk of the Heart. Uma multidão sem fim reunia-se pelo recinto do palco principal para ver a banda de Brighton. Temas como “She Moves in Her Own Way”, retirada do primeiro álbum da banda e conhecida de todos, ou “Seaside” mostraram como as letras estavam ainda na memória dos fãs.  Todos os álbuns foram corridos e equilibrados com os temas ainda por vir do último trabalho da banda. “Junk of the Heart” e “Is it Me” (tocada pela primeira vez na rádio inglesa BBC Radio 1 nessa mesma tarde) foram acolhidas pelos espectadores e havia quem já soubesse as letras, inclusive. Dançava-se por toda a parte ao som de “Naive” e “Stormy Weather” e o vocalista Luke Pritchard passeava pelo palco de guitarra às costas notavelmente feliz por estar de volta.
Todos os álbuns foram corridos e equilibrados com os temas ainda por vir do último trabalho da banda. “Junk of the Heart” e “Is it Me” (tocada pela primeira vez na rádio inglesa BBC Radio 1 nessa mesma tarde) foram acolhidas pelos espectadores e havia quem já soubesse as letras, inclusive. Dançava-se por toda a parte ao som de “Naive” e “Stormy Weather” e o vocalista Luke Pritchard passeava pelo palco de guitarra às costas notavelmente feliz por estar de volta.
 Há alguém que ainda não saiba o que esperar dos espanhóis El Guincho? Já pudemos vê-los pelo menos três vezes a fazer o que fazem melhor, uma tropicália de sons, em ambiente mais que perfeito. A esta hora, já tínhamos os pés cheios de areia, e até soube bem. Os problemas de som mantinham-se no palco EDP e quase que aconselhávamos o Pablo a ir fazer o próprio som. “Kalise” não teve, de todo, a recepção que merecia. Grande parte do público parecia não saber como se mexer ao som da música (que pouco se ouvia, pelo menos algo mais alem do baixo) e ficámos todos a gravitar no espaço durante um bocado, até “Ghetto Facil” e “Soca del Eclipse”, do último Pop Negro.
Há alguém que ainda não saiba o que esperar dos espanhóis El Guincho? Já pudemos vê-los pelo menos três vezes a fazer o que fazem melhor, uma tropicália de sons, em ambiente mais que perfeito. A esta hora, já tínhamos os pés cheios de areia, e até soube bem. Os problemas de som mantinham-se no palco EDP e quase que aconselhávamos o Pablo a ir fazer o próprio som. “Kalise” não teve, de todo, a recepção que merecia. Grande parte do público parecia não saber como se mexer ao som da música (que pouco se ouvia, pelo menos algo mais alem do baixo) e ficámos todos a gravitar no espaço durante um bocado, até “Ghetto Facil” e “Soca del Eclipse”, do último Pop Negro.  O espírito Milhões de Festa instalou-se em “Palmitos Park”, sob uma lua cheia que iluminava o espaço – foi o próprio Díaz-Reixa a admiti-lo. Um festival que deixa marcas ao ponto de ser falado duas vezes no mesmo palco, só pode ser boa coisa. “Novias” e “Bombay” já estavam a deixar toda a gente treinada para os paços de dança obrigatórios – a nuvem de pó levantou-se e já não baixou. O adeus nunca feito com “Antillas” gerou o caos no EDP e não deixava vontade de que acabasse, mas ainda havia Lykke Li para encerrar o espaço. Os espanhóis despedem-se, elogiando o país de onde, pelos vistos, gostam de regressar vezes sem conta.
O espírito Milhões de Festa instalou-se em “Palmitos Park”, sob uma lua cheia que iluminava o espaço – foi o próprio Díaz-Reixa a admiti-lo. Um festival que deixa marcas ao ponto de ser falado duas vezes no mesmo palco, só pode ser boa coisa. “Novias” e “Bombay” já estavam a deixar toda a gente treinada para os paços de dança obrigatórios – a nuvem de pó levantou-se e já não baixou. O adeus nunca feito com “Antillas” gerou o caos no EDP e não deixava vontade de que acabasse, mas ainda havia Lykke Li para encerrar o espaço. Os espanhóis despedem-se, elogiando o país de onde, pelos vistos, gostam de regressar vezes sem conta.
 A anteceder os cabeças-de-cartaz, esteve Beirut. Zach Condon e a sua banda regressaram a Portugal para um concerto que encantou os fãs mas não fascinou o público do Meco. Com algumas palavras proferidas em português, o jovem músico apresentou temas dos seus trabalhos Gulag Orkestar e The Flying Club Cup, juntamente com temas já incluídos no seu último trabalho, The Rip Tide, com data de lançamento prevista para 30 de Agosto, como foi o caso de “Vagabond” e “Santa Fe”.
A anteceder os cabeças-de-cartaz, esteve Beirut. Zach Condon e a sua banda regressaram a Portugal para um concerto que encantou os fãs mas não fascinou o público do Meco. Com algumas palavras proferidas em português, o jovem músico apresentou temas dos seus trabalhos Gulag Orkestar e The Flying Club Cup, juntamente com temas já incluídos no seu último trabalho, The Rip Tide, com data de lançamento prevista para 30 de Agosto, como foi o caso de “Vagabond” e “Santa Fe”.  Longe do rock n’ roll, mas com uma variedade de sons e instrumentos admirável, foram temas como “Elephant Gun”, “Postcards from Italy” e “My Night With the Prostitute From Marseille” que fizeram as delícias dos fãs presentes. O som não chegou a todos, havia sítios onde se ouvia melhor a música das bancas da Sic Radical e afins. O músico mostrou a sua alegria em ter voltado e agradeceu a presença e apoio dos fãs, que entoaram as letras sem falhas.
Longe do rock n’ roll, mas com uma variedade de sons e instrumentos admirável, foram temas como “Elephant Gun”, “Postcards from Italy” e “My Night With the Prostitute From Marseille” que fizeram as delícias dos fãs presentes. O som não chegou a todos, havia sítios onde se ouvia melhor a música das bancas da Sic Radical e afins. O músico mostrou a sua alegria em ter voltado e agradeceu a presença e apoio dos fãs, que entoaram as letras sem falhas.
 O palco EDP encheu-se de luzes e panos pretos do chão à altura dos holofotes. O cenário estava pronto e o público aguardava a entrada da sueca Lykke Li em palco. Esperava-se um concerto com muita energia, como a cantora nos tem vindo a habituar, mas todos estavam de pé atrás por causa do tom mais calmo que o seu último trabalho, Wounded Rhymes, tinha adquirido.
O palco EDP encheu-se de luzes e panos pretos do chão à altura dos holofotes. O cenário estava pronto e o público aguardava a entrada da sueca Lykke Li em palco. Esperava-se um concerto com muita energia, como a cantora nos tem vindo a habituar, mas todos estavam de pé atrás por causa do tom mais calmo que o seu último trabalho, Wounded Rhymes, tinha adquirido.  Para dar início, ouviu-se “Jerome”, do último álbum, um belo tema. De véu preto, que tirava e colocava durante os temas para os dramatizar a seu bel-prazer, Lykke Li empunhava a sua baqueta e dava vida à sua percussão (menos vezes que o que se esperava ver, no entanto). O recinto enchia e acolheu com furor “I’m Good, I’m Gone”. Não foi suficiente, no entanto, já que se ouviu a sueca gritar «you’ve got to give me more than that!» no final do tema.
Para dar início, ouviu-se “Jerome”, do último álbum, um belo tema. De véu preto, que tirava e colocava durante os temas para os dramatizar a seu bel-prazer, Lykke Li empunhava a sua baqueta e dava vida à sua percussão (menos vezes que o que se esperava ver, no entanto). O recinto enchia e acolheu com furor “I’m Good, I’m Gone”. Não foi suficiente, no entanto, já que se ouviu a sueca gritar «you’ve got to give me more than that!» no final do tema.  A sua vontade foi feita e uma multidão eufórica recebeu “Sadness is a Blessing”, um dos singles retirados de Wounded Rhymes. No alinhamento, constaram duas covers: “Silent Shout”, de The Knife e “Until We Bleed”, de Kleerup. “Little Bit”, a habitual favorita, foi recebida com entusiasmo e para o fim ficou a explosão de “Get Some”. Apesar do receio de que este fosse um concerto menos espectacular da sueca, a verdade é que a cantora conseguiu conferir força ao seu último álbum, deixando todos com vontade de um espectáculo em nome próprio por terras lusas.
A sua vontade foi feita e uma multidão eufórica recebeu “Sadness is a Blessing”, um dos singles retirados de Wounded Rhymes. No alinhamento, constaram duas covers: “Silent Shout”, de The Knife e “Until We Bleed”, de Kleerup. “Little Bit”, a habitual favorita, foi recebida com entusiasmo e para o fim ficou a explosão de “Get Some”. Apesar do receio de que este fosse um concerto menos espectacular da sueca, a verdade é que a cantora conseguiu conferir força ao seu último álbum, deixando todos com vontade de um espectáculo em nome próprio por terras lusas.
 Em posição de cabeças de cartaz, os ingleses Arctic Monkeys regressam a estas bandas para mostrarem Suck it and See, álbum que deixa algumas reservas em casa, mas que em concerto se traduz nos clássicos macacos. Entraram em palco ainda antes da hora prevista, com “Library Pictures” e um jogo de luzes do qual as outras bandas não gozaram.
Em posição de cabeças de cartaz, os ingleses Arctic Monkeys regressam a estas bandas para mostrarem Suck it and See, álbum que deixa algumas reservas em casa, mas que em concerto se traduz nos clássicos macacos. Entraram em palco ainda antes da hora prevista, com “Library Pictures” e um jogo de luzes do qual as outras bandas não gozaram.  E se Suck it and See vinha como assunto principal, houve bastante espaço para temas mais antigos, “Brianstorm” e “This House is a Circus” os primeiros desse grupo a serem entregues a um público devoto que não deixava nada nem ninguém passar-lhes à frente. “Still Take You Home” ainda levou Alex ao chão, esperneando-se com a sua guitarra até voltarmos a assuntos sérios:
E se Suck it and See vinha como assunto principal, houve bastante espaço para temas mais antigos, “Brianstorm” e “This House is a Circus” os primeiros desse grupo a serem entregues a um público devoto que não deixava nada nem ninguém passar-lhes à frente. “Still Take You Home” ainda levou Alex ao chão, esperneando-se com a sua guitarra até voltarmos a assuntos sérios:  “Don’t Sit Down Cause I’ve Moved the Chair” e “Pretty Visitors”, dos dois últimos álbuns. Para os momentos de maior festa e danças por todo o recinto, serviram o clássico “I Bet You Look Good on the Dancefloor” e “When the Sun Goes Down”, antes do encore. A terminar este fantástico concerto, ouviram-se “Suck it and See”, seguida de “Fluorescent Adolescent”, culminando na fantástica “505”. Puro rock n’ roll.
“Don’t Sit Down Cause I’ve Moved the Chair” e “Pretty Visitors”, dos dois últimos álbuns. Para os momentos de maior festa e danças por todo o recinto, serviram o clássico “I Bet You Look Good on the Dancefloor” e “When the Sun Goes Down”, antes do encore. A terminar este fantástico concerto, ouviram-se “Suck it and See”, seguida de “Fluorescent Adolescent”, culminando na fantástica “505”. Puro rock n’ roll.
 Tivemos poucas oportunidades de passar pelo Palco @Meco, mas o que vimos chegou para perceber que Nicolas Jaar com banda e Tiago Miranda mantinham a tenda no mesmo nível de animação que o restante festival. O fim da noite ficou por conta de James Murphy, dono dos agora defuntos LCD Soundsystem e que levou o maior número de pessoas à tenda, ganhando para muitos o lugar de homem da noite no @Meco.
Tivemos poucas oportunidades de passar pelo Palco @Meco, mas o que vimos chegou para perceber que Nicolas Jaar com banda e Tiago Miranda mantinham a tenda no mesmo nível de animação que o restante festival. O fim da noite ficou por conta de James Murphy, dono dos agora defuntos LCD Soundsystem e que levou o maior número de pessoas à tenda, ganhando para muitos o lugar de homem da noite no @Meco.
15 de Julho de 2011
 Mais um dia de concertos no festival Super Bock Super Rock, marcado por temperaturas altas e música para todos os públicos, porém, a continuação de más condições. tanto nos acessos como no recinto. O pó e a sobrelotação do acampamento levou a que muitos festivaleiros se sentissem mal no decorrer do evento, no entanto, a vontade de ver as bandas adoradas como Arcade Fire e Portishead é maior do que o desconforto e tenta-se suportar tudo (ou quase tudo). Por volta das quatro horas da tarde, à hora da abertura do recinto, já podiam ser vistas inúmeras pessoas, quer sentadas à sombra das árvores, quer a marcar lugar na grade – pois avistavam-se dois grandes concertos que, certamente, ninguém queria perder.
Mais um dia de concertos no festival Super Bock Super Rock, marcado por temperaturas altas e música para todos os públicos, porém, a continuação de más condições. tanto nos acessos como no recinto. O pó e a sobrelotação do acampamento levou a que muitos festivaleiros se sentissem mal no decorrer do evento, no entanto, a vontade de ver as bandas adoradas como Arcade Fire e Portishead é maior do que o desconforto e tenta-se suportar tudo (ou quase tudo). Por volta das quatro horas da tarde, à hora da abertura do recinto, já podiam ser vistas inúmeras pessoas, quer sentadas à sombra das árvores, quer a marcar lugar na grade – pois avistavam-se dois grandes concertos que, certamente, ninguém queria perder.
 Foi ao projecto Noiserv, de David Santos, que coube a honra de abrir o palco principal e, apesar de ter tido um público numeroso e ansioso por o ver tocar, não somos capazes de deixar de estranhar este início de alinhamento, uma vez que o cantor e intérprete certamente beneficiaria um palco menor com um ambiente mais intimista.
Foi ao projecto Noiserv, de David Santos, que coube a honra de abrir o palco principal e, apesar de ter tido um público numeroso e ansioso por o ver tocar, não somos capazes de deixar de estranhar este início de alinhamento, uma vez que o cantor e intérprete certamente beneficiaria um palco menor com um ambiente mais intimista.  David Santos não se intimida, no entanto, e, com o seu arsenal de instrumentos e maquinarias, tal como com Diana Mascarenhas, encarregue dos desenhos a preto e branco que iam sendo projectados em metades opostas do palco, encantou um público que o recebeu de braços abertos, a si e aos seus temas acústico-electrónicos suaves. Parecem canções de embalar, mas revelam-se mais profundas que isso: ‘Melody Pops’ e ‘Consolation Prizes’ têm histórias por detrás que são reveladas por uma voz introvertida atrás de uma guitarra. O público encanta-se e o artista sai satisfeito.
David Santos não se intimida, no entanto, e, com o seu arsenal de instrumentos e maquinarias, tal como com Diana Mascarenhas, encarregue dos desenhos a preto e branco que iam sendo projectados em metades opostas do palco, encantou um público que o recebeu de braços abertos, a si e aos seus temas acústico-electrónicos suaves. Parecem canções de embalar, mas revelam-se mais profundas que isso: ‘Melody Pops’ e ‘Consolation Prizes’ têm histórias por detrás que são reveladas por uma voz introvertida atrás de uma guitarra. O público encanta-se e o artista sai satisfeito.
 Era a altura da actuação dos L.A. no canto oposto do recinto arenoso, um concerto que terá feito a delícia dos muitos espanhóis que se misturavam entre o público, no entanto, a nossa atenção esteve focada em
Era a altura da actuação dos L.A. no canto oposto do recinto arenoso, um concerto que terá feito a delícia dos muitos espanhóis que se misturavam entre o público, no entanto, a nossa atenção esteve focada em  Rodrigo Leão. Acompanhado pelos Dark Jazz Ensemble, este ofereceu ao público um concerto que terá agradado em maior parte a um público mais adulto, conhecedor quer dos talentos quer do material do artista, mas que não deixou de ser agradável. O multifacetado Leão prima tanto pela construção instrumental elaborada como pela infusão de estilos muito diferentes, mas que nunca chegam a parecer distintos, e é um deleite especial ouvi-lo quando acompanhado pela voz fantástica de Ana Vieira. ‘Vida Tão Estranha’ todos reconhecem, já ‘A Corda’ e o novo tema ‘A Dor Mente’ passa mais ao lado e o concerto culmina em ‘Pasión’ - é com muitos aplausos que se despedem os versáteis músicos.
Rodrigo Leão. Acompanhado pelos Dark Jazz Ensemble, este ofereceu ao público um concerto que terá agradado em maior parte a um público mais adulto, conhecedor quer dos talentos quer do material do artista, mas que não deixou de ser agradável. O multifacetado Leão prima tanto pela construção instrumental elaborada como pela infusão de estilos muito diferentes, mas que nunca chegam a parecer distintos, e é um deleite especial ouvi-lo quando acompanhado pela voz fantástica de Ana Vieira. ‘Vida Tão Estranha’ todos reconhecem, já ‘A Corda’ e o novo tema ‘A Dor Mente’ passa mais ao lado e o concerto culmina em ‘Pasión’ - é com muitos aplausos que se despedem os versáteis músicos.
 No palco secundário, é B Fachada que entretém as massas. Uma espécie de ave rara na cena musical portuguesa, é decerto que não agradará a toda a gente, mas transborda de auto-confiança e carisma de tal ponto que os seus concertos acabam por ter graça. Acompanhado por três músicos na sua banda, B Fachada passou por alguns dos temas que já são sua marca, como ‘Estar à Espera ou Procurar’ e mesmo ‘Zé’, muito pedida pelo público.
No palco secundário, é B Fachada que entretém as massas. Uma espécie de ave rara na cena musical portuguesa, é decerto que não agradará a toda a gente, mas transborda de auto-confiança e carisma de tal ponto que os seus concertos acabam por ter graça. Acompanhado por três músicos na sua banda, B Fachada passou por alguns dos temas que já são sua marca, como ‘Estar à Espera ou Procurar’ e mesmo ‘Zé’, muito pedida pelo público. Este combina a voz teatral em Português às guitarradas acústicas de cantautor, lembrando Sérgio Godinho com um twist moderno, desdobrando-se em personagens nas suas letras quase como Fernando Pessoa. Já não é desconhecido do público português, relembramos que no festival Super Bock em Stock do ano passado também actuou para um São Jorge lotado, e é com toda a naturalidade que se juntaram muitas pessoas para assistir ao miúdo maravilha de língua afiada, mas de talento peculiar a transbordar.
Este combina a voz teatral em Português às guitarradas acústicas de cantautor, lembrando Sérgio Godinho com um twist moderno, desdobrando-se em personagens nas suas letras quase como Fernando Pessoa. Já não é desconhecido do público português, relembramos que no festival Super Bock em Stock do ano passado também actuou para um São Jorge lotado, e é com toda a naturalidade que se juntaram muitas pessoas para assistir ao miúdo maravilha de língua afiada, mas de talento peculiar a transbordar.
 Já o concerto de Paulo Furtado ou Legendary Tigerman, no palco secundário, não tivemos oportunidade de presenciar (são estes os pontos menos bons de um festival centrado em dois palcos), decidindo apanhar os The Gift, no palco principal, juntando-nos aos muitos que já marcavam lugar para lá ficar o resto da noite. No entanto, se todos estavam à espera de um best of da banda portuguesa na hora e pouco em que actuaram, os
Já o concerto de Paulo Furtado ou Legendary Tigerman, no palco secundário, não tivemos oportunidade de presenciar (são estes os pontos menos bons de um festival centrado em dois palcos), decidindo apanhar os The Gift, no palco principal, juntando-nos aos muitos que já marcavam lugar para lá ficar o resto da noite. No entanto, se todos estavam à espera de um best of da banda portuguesa na hora e pouco em que actuaram, os  The Gift decidiram trocar as voltas ao público e apresentaram, na sua grande parte, temas do novo álbum Explode. Evitam-se os grandes êxitos (menos os inevitáveis, como ‘Driving You Slow’) da grande carreira dos portugueses e entra-se num universo mais agitado, mais entusiasta, com um ligeiro desvio musical, do novo material.
The Gift decidiram trocar as voltas ao público e apresentaram, na sua grande parte, temas do novo álbum Explode. Evitam-se os grandes êxitos (menos os inevitáveis, como ‘Driving You Slow’) da grande carreira dos portugueses e entra-se num universo mais agitado, mais entusiasta, com um ligeiro desvio musical, do novo material.  Sónia Tavares e Nuno Gonçalves de tudo tentam para agitar a hoste, incitando-a, correndo pelo palco, no entanto, fica a impressão que os temas de Explode, como ‘RGB’ e ‘Made For You’ não têm o impacto nem a qualidade desejadas. De facto, é com uma certa despreocupação que se assistiu a este concerto, que nem aqueceu, nem arrefeceu.
Sónia Tavares e Nuno Gonçalves de tudo tentam para agitar a hoste, incitando-a, correndo pelo palco, no entanto, fica a impressão que os temas de Explode, como ‘RGB’ e ‘Made For You’ não têm o impacto nem a qualidade desejadas. De facto, é com uma certa despreocupação que se assistiu a este concerto, que nem aqueceu, nem arrefeceu.
 Mudança mais anti-climática dificilmente houve nesta edição do Super Bock Super Rock, o que nos levou a questionar, novamente, o alinhamento deste segundo dia: chegou a altura dos Portishead tocarem no palco principal, num dos concertos que se afigurou como inesquecível para todos os presentes. Os ingredientes principais desta fórmula (quase) imbatível?
Mudança mais anti-climática dificilmente houve nesta edição do Super Bock Super Rock, o que nos levou a questionar, novamente, o alinhamento deste segundo dia: chegou a altura dos Portishead tocarem no palco principal, num dos concertos que se afigurou como inesquecível para todos os presentes. Os ingredientes principais desta fórmula (quase) imbatível?  Em primeiro lugar, a estética assombrosa dos efeitos em loop das câmaras que filmavam a banda em palco, que tanto nos transportavam para os anos 80, como nos proporcionavam arrepios na espinha. Em segundo lugar, a voz belíssima de Beth Gibbons, que tem de doce e aterrador em doses iguais, e que é como o estandarte da imensa qualidade musical dos Portishead. É esta voz que nos leva de ‘Silence’, tema que abriu o concerto, para a muito aplaudida ‘Glory Box’ de Dummy (1994), através de um encanto tão grande que parece fantasia.
Em primeiro lugar, a estética assombrosa dos efeitos em loop das câmaras que filmavam a banda em palco, que tanto nos transportavam para os anos 80, como nos proporcionavam arrepios na espinha. Em segundo lugar, a voz belíssima de Beth Gibbons, que tem de doce e aterrador em doses iguais, e que é como o estandarte da imensa qualidade musical dos Portishead. É esta voz que nos leva de ‘Silence’, tema que abriu o concerto, para a muito aplaudida ‘Glory Box’ de Dummy (1994), através de um encanto tão grande que parece fantasia.  Por último, é a grande capacidade técnica, não só de execução como de mestria do som, dos restantes membros da banda, que os temas mais mecânicos como ‘Machine Gun’ e ‘The Rip’ são entregues ao público na perfeição. Teme-se o quebrar do feitiço, que à luz da lua parece mais forte do que nunca, no entanto, o público português não hesita em acompanhar Gibbons em temas como ‘Roads’ e ‘Wandering Star’. Foi ‘Over’ o momento alto da noite, num concerto de excelente qualidade, que serviu como um primeiro KO deste segundo dia do festival.
Por último, é a grande capacidade técnica, não só de execução como de mestria do som, dos restantes membros da banda, que os temas mais mecânicos como ‘Machine Gun’ e ‘The Rip’ são entregues ao público na perfeição. Teme-se o quebrar do feitiço, que à luz da lua parece mais forte do que nunca, no entanto, o público português não hesita em acompanhar Gibbons em temas como ‘Roads’ e ‘Wandering Star’. Foi ‘Over’ o momento alto da noite, num concerto de excelente qualidade, que serviu como um primeiro KO deste segundo dia do festival.
 Chega, por fim, o final da noite, e sente-se no ar a ansiedade dos fãs portugueses, que já esperavam pelos Arcade Fire desde Novembro do ano passado. O cenário da banda canadiana envolve a tela de uma sala de cinema e é precisamente assim que começa o concerto, com a exibição de uma sequência de trailers retro e de uma pequena apresentação de Scenes from the Suburbs, o filme de curta metragem da sua autoria, realizado por Spike Jonze. Lançam-se as bases para a completa histeria do público português, exacerbada pela entrada dos músicos em palco e por uma ‘Ready to Start’ que se pronta imediatamente a irromper pela Herdade do Cabeço da Flauta.
Chega, por fim, o final da noite, e sente-se no ar a ansiedade dos fãs portugueses, que já esperavam pelos Arcade Fire desde Novembro do ano passado. O cenário da banda canadiana envolve a tela de uma sala de cinema e é precisamente assim que começa o concerto, com a exibição de uma sequência de trailers retro e de uma pequena apresentação de Scenes from the Suburbs, o filme de curta metragem da sua autoria, realizado por Spike Jonze. Lançam-se as bases para a completa histeria do público português, exacerbada pela entrada dos músicos em palco e por uma ‘Ready to Start’ que se pronta imediatamente a irromper pela Herdade do Cabeço da Flauta.
 Se os Arcade Fire já tinham um certo estatuto de banda de culto entre os portugueses, foi com esta terceira vez em Portugal (já tinham passado precisamente pelo festival Super Bock Super Rock, em 2007) que estes consolidaram uma base de fãs que roça o impressionante. Em ‘Keep the Car Running’ e ‘Neighbourhood #2 (Laika)’, o público não hesita em saltar, esbracejar e cantarolar, tanto as letras, como as próprias melodias, tanto que recebem de Win Butler, porta-voz e líder da banda, o enorme de elogio de lhes lembrarem porque actuam ao vivo. Ora, tamanha devoção a artistas não é rara, mas de uma dimensão tão grande é um ode à qualidade desta banda, que reúne tudo o que uma banda rock moderna deve ser e que se espalha por todos, sem nunca perder o que tem de único: a ligação com quem os ouve.
Se os Arcade Fire já tinham um certo estatuto de banda de culto entre os portugueses, foi com esta terceira vez em Portugal (já tinham passado precisamente pelo festival Super Bock Super Rock, em 2007) que estes consolidaram uma base de fãs que roça o impressionante. Em ‘Keep the Car Running’ e ‘Neighbourhood #2 (Laika)’, o público não hesita em saltar, esbracejar e cantarolar, tanto as letras, como as próprias melodias, tanto que recebem de Win Butler, porta-voz e líder da banda, o enorme de elogio de lhes lembrarem porque actuam ao vivo. Ora, tamanha devoção a artistas não é rara, mas de uma dimensão tão grande é um ode à qualidade desta banda, que reúne tudo o que uma banda rock moderna deve ser e que se espalha por todos, sem nunca perder o que tem de único: a ligação com quem os ouve.
 É, de facto, uma ligação muito especial que estabelecem com os seus fãs, quase espiritual, muito pautada por temas nostálgicos de uma juventude eterna que é bela, e nunca barata. ‘Neighhourhood #1 (Tunnels)’ e ‘The Suburbs’, do homónimo esforço musical lançado ainda este ano, são excelentes exemplos, tal como a universal ‘Crown of Love’ e a adorável ‘Haiti’, interpretada pela mágica e colorida Regine Chassagne, a outra metade da dupla que encabeça esta revolução sonora.
É, de facto, uma ligação muito especial que estabelecem com os seus fãs, quase espiritual, muito pautada por temas nostálgicos de uma juventude eterna que é bela, e nunca barata. ‘Neighhourhood #1 (Tunnels)’ e ‘The Suburbs’, do homónimo esforço musical lançado ainda este ano, são excelentes exemplos, tal como a universal ‘Crown of Love’ e a adorável ‘Haiti’, interpretada pela mágica e colorida Regine Chassagne, a outra metade da dupla que encabeça esta revolução sonora.
 Em palco, estão quase uma dúzia de músicos, que nunca descansam e dão tudo de si, numa despejo de energia incomparável sem nunca se descuidarem tecnicamente. ‘Month of May’ foi um dos momentos que incendiaram por completo o recinto do festival num rodopio frenético sonoro, que quase põe um pézinho no punk, seguida da estrondosa ‘Rebellion (Lies)’, que todos têm na ponta da língua. Este foi, seguramente, um dos momentos da noite e, vindo-se pelo sorriso de orelha a orelha de Win Butler, este não passou despercebido.
Em palco, estão quase uma dúzia de músicos, que nunca descansam e dão tudo de si, numa despejo de energia incomparável sem nunca se descuidarem tecnicamente. ‘Month of May’ foi um dos momentos que incendiaram por completo o recinto do festival num rodopio frenético sonoro, que quase põe um pézinho no punk, seguida da estrondosa ‘Rebellion (Lies)’, que todos têm na ponta da língua. Este foi, seguramente, um dos momentos da noite e, vindo-se pelo sorriso de orelha a orelha de Win Butler, este não passou despercebido.
 Claro que um concerto desta magnitude nunca poderia acabar sem bang e, já no encore, ‘Wake Up’ foi prontamente aplaudida por um público com ânsia de catarse emocional, que atingiu o extremo no tema emblemático dos canadianos. Levantam-se os braços, brada-se aos céus com uma comoção que desassossega e emociona – é este o fenómeno que inunda a Herdade do Cabeço da Flauta e abafa os próprios músicos, é este o abalo delirante que é provocado pelo espírito de um movimento que é maior do que os seus criadores. ‘Sprawl II’ encerra um dos melhores concertos que este festival já viu – para muito agrado de quem tudo suportou para o poder presenciar.
Claro que um concerto desta magnitude nunca poderia acabar sem bang e, já no encore, ‘Wake Up’ foi prontamente aplaudida por um público com ânsia de catarse emocional, que atingiu o extremo no tema emblemático dos canadianos. Levantam-se os braços, brada-se aos céus com uma comoção que desassossega e emociona – é este o fenómeno que inunda a Herdade do Cabeço da Flauta e abafa os próprios músicos, é este o abalo delirante que é provocado pelo espírito de um movimento que é maior do que os seus criadores. ‘Sprawl II’ encerra um dos melhores concertos que este festival já viu – para muito agrado de quem tudo suportou para o poder presenciar.
Por fim, uma vez mais, os Arcade Fire provam que já são pesos pesados no panorama musical internacional, mas mais que isso: são uma banda que, além de estilo, têm coração e espírito a transbordar.
16 de Julho de 2011
 Foi com concertos como o dos nova-iorquinos The Strokes e Slash que foi encerrada esta 17ª edição do Festival Super Bock Super Rock, na Herdade do Cabeço da Flauta. A segunda edição do festival lisboeta no Meco foi um grande sucesso aparentemente. Apesar de esgotados os bilhetes para a maior parte dos dias o festival conta ainda com algumas deficiências estruturais, tanto a nível do recinto em si, como no acampamento. O pó parece ser uma das maiores queixas, algo a que os organizadores têm de tomar atenção, para não dissuadir os possíveis e futuros festivaleiros que terão reservas em respirar a poeira levantada.
Foi com concertos como o dos nova-iorquinos The Strokes e Slash que foi encerrada esta 17ª edição do Festival Super Bock Super Rock, na Herdade do Cabeço da Flauta. A segunda edição do festival lisboeta no Meco foi um grande sucesso aparentemente. Apesar de esgotados os bilhetes para a maior parte dos dias o festival conta ainda com algumas deficiências estruturais, tanto a nível do recinto em si, como no acampamento. O pó parece ser uma das maiores queixas, algo a que os organizadores têm de tomar atenção, para não dissuadir os possíveis e futuros festivaleiros que terão reservas em respirar a poeira levantada.
 Neste último dia foram os X-Wife, os já muito conhecidos músicos portugueses, que estrearam o palco principal por volta das sete da tarde. Apesar do público ser menor e as condições climatéricas não estarem a favor (tanto em termos de calor como de vento), os portuenses proporcionaram um agradável concerto, repleto de energia e boa-disposição. Junta-se o estilo descontraído dos artistas ao indie rock electrónico e tem-se a receita dos portuenses: temas eficazes como “OntheRadio” e “I Keep On Dancing” conseguiram incitar as massas a abanar as ancas, naquela que foi uma oportunidade de apresentação do novo esforço Infectious Affectional. Considerem-nos convencidos.
Neste último dia foram os X-Wife, os já muito conhecidos músicos portugueses, que estrearam o palco principal por volta das sete da tarde. Apesar do público ser menor e as condições climatéricas não estarem a favor (tanto em termos de calor como de vento), os portuenses proporcionaram um agradável concerto, repleto de energia e boa-disposição. Junta-se o estilo descontraído dos artistas ao indie rock electrónico e tem-se a receita dos portuenses: temas eficazes como “OntheRadio” e “I Keep On Dancing” conseguiram incitar as massas a abanar as ancas, naquela que foi uma oportunidade de apresentação do novo esforço Infectious Affectional. Considerem-nos convencidos.
 Pouco depois, eram os PAUS que faziam furor no palco secundário. A super banda, constituída por nomes como o de Hélio Morais (Linda Martini e If Lucy Fell), Joaquim Albergaria (The Vicious Five) e de Makoto Yagyu (If Lucy Fell), levou os amantes de música por uma viagem tribal e espacial mirabolante ao longo de quase uma hora. Considerado como um dos novos e mais entusiasmantes projectos que se desenrolam em Portugal, os PAUS aliam o inabitual
Pouco depois, eram os PAUS que faziam furor no palco secundário. A super banda, constituída por nomes como o de Hélio Morais (Linda Martini e If Lucy Fell), Joaquim Albergaria (The Vicious Five) e de Makoto Yagyu (If Lucy Fell), levou os amantes de música por uma viagem tribal e espacial mirabolante ao longo de quase uma hora. Considerado como um dos novos e mais entusiasmantes projectos que se desenrolam em Portugal, os PAUS aliam o inabitual  (tanto na bateria a dobrar como na multiplicidade de influências sonoras) ao empiricamente provado (principalmente os coros) numa comunhão feliz e de inegável qualidade. Ao vivo, mostram uma enorme mestria técnica nos temas do EP É Uma Água – ‘Mudo e Surdo’ é o ponto alto do concerto, sem dúvida - e também nos do disco por lançar em Outubro, que mostram uma vertente ainda mais experimental dos heróis do público português. Um concerto vertiginoso que encheu as medidas.
(tanto na bateria a dobrar como na multiplicidade de influências sonoras) ao empiricamente provado (principalmente os coros) numa comunhão feliz e de inegável qualidade. Ao vivo, mostram uma enorme mestria técnica nos temas do EP É Uma Água – ‘Mudo e Surdo’ é o ponto alto do concerto, sem dúvida - e também nos do disco por lançar em Outubro, que mostram uma vertente ainda mais experimental dos heróis do público português. Um concerto vertiginoso que encheu as medidas.
Novamente no palco principal, era Brandon Flowers que dava ares da sua graça. Sem os The Killers, o músico americano apresentou-se bem disposto e comunicativo na apresentação do seu álbum de estreia, Flamingo, ao público português. Menos chamativo que o trabalho com os restantes membros da banda, os temas do seu álbum de estreia não mostram um grande desvio da sonoridade chave dos The Killers, nem são particularmente originais. No entanto, ‘Jilted Lovers’ e ‘Only The Young’ foram algumas das músicas que mais agitaram os jovens, que os receberam de braços abertos, mas que apenas vibraram nas versões de ‘Mr. Brightside’ e ‘Read My Mind’. Refrões chorudos e pé no electrónico marcam o passo e Brandon Flowers pode, com certeza, ter razões para sorrir com a sua recepção em Portugal a solo.
 Já os Junip, no palco secundário, também foram bem recebidos, talvez por um público que ansiava um ambiente mais calmo e uma fuga ao frenesim que caracteriza os festivais de verão. Mais conhecidos pelo seu vocalista, José González, a banda sueca proporcionou um concerto calmo, mas repleto de interesse, naquele que foi o regresso a Portugal desde a actuação no festival Super Bock em Stock, em Dezembro do ano passado.
Já os Junip, no palco secundário, também foram bem recebidos, talvez por um público que ansiava um ambiente mais calmo e uma fuga ao frenesim que caracteriza os festivais de verão. Mais conhecidos pelo seu vocalista, José González, a banda sueca proporcionou um concerto calmo, mas repleto de interesse, naquele que foi o regresso a Portugal desde a actuação no festival Super Bock em Stock, em Dezembro do ano passado.  O receptivo público ouvia com atenção do folk suave, dedilhado em guitarra acústica pelas hábeis mãos de González, claro mestre e maestro dos Junip: mostra-se um tímido e subtil intérprete, mas o sueco sabe quase que hipnotizar os festivaleiros com a sua voz amena, deliciando os ouvidos de quem estava presente. ‘Always’, ‘Rope and Summit’ e ‘Without You’ foram alguns dos temas tocados de Fields(2010), demonstrando uma sonoridade harmoniosa que, não sendo espectacular, é única.
O receptivo público ouvia com atenção do folk suave, dedilhado em guitarra acústica pelas hábeis mãos de González, claro mestre e maestro dos Junip: mostra-se um tímido e subtil intérprete, mas o sueco sabe quase que hipnotizar os festivaleiros com a sua voz amena, deliciando os ouvidos de quem estava presente. ‘Always’, ‘Rope and Summit’ e ‘Without You’ foram alguns dos temas tocados de Fields(2010), demonstrando uma sonoridade harmoniosa que, não sendo espectacular, é única.
 Se os Junip gozaram de um público bastante acolhedor, no palco principal eram os Elbow que se esforçavam por manter os festivaleiros bem despertos. É decerto que os ingleses não criam o rock alternativo mais barulhento, sendo talvez demasiado emotivo e etéreo para reunir um entusiasmo maior do público, mas não se poderá dizer que não têm qualidade.
Se os Junip gozaram de um público bastante acolhedor, no palco principal eram os Elbow que se esforçavam por manter os festivaleiros bem despertos. É decerto que os ingleses não criam o rock alternativo mais barulhento, sendo talvez demasiado emotivo e etéreo para reunir um entusiasmo maior do público, mas não se poderá dizer que não têm qualidade.  Vencedores do Mercury Prize pelo álbum SeldomSeen Kid, os Elbow demonstram uma enorme sensibilidade musical na construção de temas belíssimos como ‘LippyKids’, que têm uma complexidade maior do que a que aparentam à primeira vista (daí que cheguem a um rock progressivo, que não o deixa de ser por ser mais moderado). Na apresentação de Build a RocketBoys!, os britânicos mostraram-se excelentes, com uma performance em palco activa e animada, no entanto, a massa de cabeças que já se alojavam perto do palco principal parecia apenas guardar lugar para concertos maiores. É uma pena.
Vencedores do Mercury Prize pelo álbum SeldomSeen Kid, os Elbow demonstram uma enorme sensibilidade musical na construção de temas belíssimos como ‘LippyKids’, que têm uma complexidade maior do que a que aparentam à primeira vista (daí que cheguem a um rock progressivo, que não o deixa de ser por ser mais moderado). Na apresentação de Build a RocketBoys!, os britânicos mostraram-se excelentes, com uma performance em palco activa e animada, no entanto, a massa de cabeças que já se alojavam perto do palco principal parecia apenas guardar lugar para concertos maiores. É uma pena.
 Fomos impossibilitados de assistir ao concerto de Ian Brown, no entanto, permanecemos para testemunhar a presença do mítico Slash, ex-guitarrista dos Guns N’ Roses, no palco português. Rock and roll puro já é de esperar, e foi o que marcou o passo no final do último dia no Meco.
Fomos impossibilitados de assistir ao concerto de Ian Brown, no entanto, permanecemos para testemunhar a presença do mítico Slash, ex-guitarrista dos Guns N’ Roses, no palco português. Rock and roll puro já é de esperar, e foi o que marcou o passo no final do último dia no Meco.  Slash, de cartola na cabeça, continua um inatacável performer ao vivo, deslizando pelo braço da sua guitarra eléctrica como se fosse um próprio membro do seu corpo. A mestria do seu instrumento nunca poderá ser algo que podemos criticar, no entanto, o temas do seu álbum a solo pareciam agradar mais a entusiastas e conhecedores do seu trabalho, permanecendo indiferente para muita gente que assistiam ao artista.
Slash, de cartola na cabeça, continua um inatacável performer ao vivo, deslizando pelo braço da sua guitarra eléctrica como se fosse um próprio membro do seu corpo. A mestria do seu instrumento nunca poderá ser algo que podemos criticar, no entanto, o temas do seu álbum a solo pareciam agradar mais a entusiastas e conhecedores do seu trabalho, permanecendo indiferente para muita gente que assistiam ao artista.  Myles Kennedy emprestou a voz, de forma competente, a temas como ‘Ghost’, ‘Mean Bone’ e ‘Nighttrain’, porém, estes pouco foram capazes de agitar a hoste. O acordar da hipnose (já o cansaço era muito) dos que assistiam só veio com a famosíssima ‘Sweet Child O’ Mine’ e ‘Paradise City’, então sim, entoada pelo recinto e aplaudida como nunca. Velhos êxitos que nunca morrem, por isso pode Slash estar grato.
Myles Kennedy emprestou a voz, de forma competente, a temas como ‘Ghost’, ‘Mean Bone’ e ‘Nighttrain’, porém, estes pouco foram capazes de agitar a hoste. O acordar da hipnose (já o cansaço era muito) dos que assistiam só veio com a famosíssima ‘Sweet Child O’ Mine’ e ‘Paradise City’, então sim, entoada pelo recinto e aplaudida como nunca. Velhos êxitos que nunca morrem, por isso pode Slash estar grato.
 Messias do indie rock, ídolos de uma geração, chamem-lhe o que quiserem – o fenómeno The Strokes ainda é grande e capaz de atrair um grande público. Os senhores que lançaram uma grande parte do movimento indie, no início do século XXI, apostaram num concerto eficaz, com os melhores momentos da sua carreira, embora tenha pecado por ser curto.
Messias do indie rock, ídolos de uma geração, chamem-lhe o que quiserem – o fenómeno The Strokes ainda é grande e capaz de atrair um grande público. Os senhores que lançaram uma grande parte do movimento indie, no início do século XXI, apostaram num concerto eficaz, com os melhores momentos da sua carreira, embora tenha pecado por ser curto.
 Julian Casablancas e a sua trupe entraram de maneira despreocupada em palco, abrindo de imediato com ‘New York City Cops’, seguindo-se pouco depois por ‘Reptilia’ – e o delírio é universal. Fãs apertam-se, saltam e bradam os versos mais que recordados, tão ansiosos por catarse emocional que é impressionante de ver. Apesar de terem a etiqueta de alternativos, não estão longe do apelidado comercial, com o rock extremamente melódico e harmonioso, repleto de solos, que satisfazem qualquer ouvinte fácil de música.
Julian Casablancas e a sua trupe entraram de maneira despreocupada em palco, abrindo de imediato com ‘New York City Cops’, seguindo-se pouco depois por ‘Reptilia’ – e o delírio é universal. Fãs apertam-se, saltam e bradam os versos mais que recordados, tão ansiosos por catarse emocional que é impressionante de ver. Apesar de terem a etiqueta de alternativos, não estão longe do apelidado comercial, com o rock extremamente melódico e harmonioso, repleto de solos, que satisfazem qualquer ouvinte fácil de música.  Sabem que a sua fórmula funciona – basta assistir à sequência ‘Last Nite’, ‘Modern Age’ e ‘Is This It’ para o confirmar, uma vez que, apesar dos ligeiros problemas de som, o público retribui tudo o que lhe é dado, com ânsia de agradar aos seus ídolos. Talvez este culto aos The Strokes tenha sido resultado do pequeno interregno de cinco anos que se seguiu ao lançamento de First Impressions of Earth, em 2006, mas o que é certo é que os fanáticos Strokeanos até o disparo algo ao lado de Angles, lançado neste ano, perdoam. ‘Machu Picchu’ e ‘Under Cover of Darkness’ são belos e agradáveis exemplos deste ligeiro desvio sonoro que deixou a pedir mais, mas que é bem recebido por um público com energia inesgotável.
Sabem que a sua fórmula funciona – basta assistir à sequência ‘Last Nite’, ‘Modern Age’ e ‘Is This It’ para o confirmar, uma vez que, apesar dos ligeiros problemas de som, o público retribui tudo o que lhe é dado, com ânsia de agradar aos seus ídolos. Talvez este culto aos The Strokes tenha sido resultado do pequeno interregno de cinco anos que se seguiu ao lançamento de First Impressions of Earth, em 2006, mas o que é certo é que os fanáticos Strokeanos até o disparo algo ao lado de Angles, lançado neste ano, perdoam. ‘Machu Picchu’ e ‘Under Cover of Darkness’ são belos e agradáveis exemplos deste ligeiro desvio sonoro que deixou a pedir mais, mas que é bem recebido por um público com energia inesgotável.
 Ora, se o público brilhou pelo seu apoio incondicional, os performers é que ficaram um pouco a perder. Apesar de comunicativos, o espírito e a quase rebeldia que caracterizava a banda nova-iorquina no início de carreira (e até na passagem por Lisboa, em 2006) parece ter desaparecido, sendo substituído por uma exibição mecânica, embora tecnicamente irrepreensível – Valensi e Hammond, Jr. dedilham as suas guitarras com a mesma pujança de Slash. Já Casablancas passeia pelo palco despreocupado e parece uma sombra de si mesmo – parece estranho quando anteriormente viviam do espírito e da performance ao vivo exuberante e energética.
Ora, se o público brilhou pelo seu apoio incondicional, os performers é que ficaram um pouco a perder. Apesar de comunicativos, o espírito e a quase rebeldia que caracterizava a banda nova-iorquina no início de carreira (e até na passagem por Lisboa, em 2006) parece ter desaparecido, sendo substituído por uma exibição mecânica, embora tecnicamente irrepreensível – Valensi e Hammond, Jr. dedilham as suas guitarras com a mesma pujança de Slash. Já Casablancas passeia pelo palco despreocupado e parece uma sombra de si mesmo – parece estranho quando anteriormente viviam do espírito e da performance ao vivo exuberante e energética.
 A lendária ‘Hard to Explain’ antecede a agressiva e energética ‘Juicebox’ e pouco depois é ‘Take It or Leave It’, num fechar explosivo de concerto, mas que não contou com nenhum encore. Os fãs ficam a pedir mais, mas não têm sorte. Fica a memória de uma banda crescida, de um concerto divertido e eficaz, mas também a memória do que já foi.
A lendária ‘Hard to Explain’ antecede a agressiva e energética ‘Juicebox’ e pouco depois é ‘Take It or Leave It’, num fechar explosivo de concerto, mas que não contou com nenhum encore. Os fãs ficam a pedir mais, mas não têm sorte. Fica a memória de uma banda crescida, de um concerto divertido e eficaz, mas também a memória do que já foi.
Reportagem Festival Optimus Alive!11
- Festivais
- Festivais
- Acessos: 4331
 Foi nos dias 6, 7, 8 e 9 de Julho que a 5ª edição do festival Optimus Alive! decorreu. O festival, considerado este ano pela revista britânica NME como um dos 12 festivais de Verão a não perder, contava com novidades: um dia a mais que as versões anteriores e os palcos Super Bock e Optimus Clubbing maiores que nunca. Os nomes atraíram milhares de pessoas e nem o vento que se fez sentir durante todos os dias do festival conseguiu demover os espectadores.
Foi nos dias 6, 7, 8 e 9 de Julho que a 5ª edição do festival Optimus Alive! decorreu. O festival, considerado este ano pela revista britânica NME como um dos 12 festivais de Verão a não perder, contava com novidades: um dia a mais que as versões anteriores e os palcos Super Bock e Optimus Clubbing maiores que nunca. Os nomes atraíram milhares de pessoas e nem o vento que se fez sentir durante todos os dias do festival conseguiu demover os espectadores.
6 de Julho de 2011
 O primeiro dia, o único a esgotar, juntava fãs e curiosos na fila da frente, alguns mais emotivos que outros. O recinto, este ano aumentado de capacidade, permitiu uma circulação tranquila, ao contrário do que podíamos experienciar no ano anterior, no dia esgotado. Também o percurso entre palcos foi melhorado, tentando minimizar a poeira no ar com carpetes pelo chão na zona de restauração.
O primeiro dia, o único a esgotar, juntava fãs e curiosos na fila da frente, alguns mais emotivos que outros. O recinto, este ano aumentado de capacidade, permitiu uma circulação tranquila, ao contrário do que podíamos experienciar no ano anterior, no dia esgotado. Também o percurso entre palcos foi melhorado, tentando minimizar a poeira no ar com carpetes pelo chão na zona de restauração.
 A dar início a esta edição, estiveram os neo-zelandeses The Naked and Famous, a abrir o Palco Super Bock. O recinto estava meio cheio e o som revelou problemas de equalização. “All of This” fez as honras e a banda mostrou energia em palco. Os espectadores juntavam-se e contavam-se bastantes fãs entre a multidão. A banda agradeceu a presença de todos e garantiu que nunca se iria esquecer do seu primeiro concerto em Portugal. “Young Blood” fechou o alinhamento, que contou com outros temas como “No Way” e “Girls Like You”.
A dar início a esta edição, estiveram os neo-zelandeses The Naked and Famous, a abrir o Palco Super Bock. O recinto estava meio cheio e o som revelou problemas de equalização. “All of This” fez as honras e a banda mostrou energia em palco. Os espectadores juntavam-se e contavam-se bastantes fãs entre a multidão. A banda agradeceu a presença de todos e garantiu que nunca se iria esquecer do seu primeiro concerto em Portugal. “Young Blood” fechou o alinhamento, que contou com outros temas como “No Way” e “Girls Like You”.
 Seguiu-se a banda californiana Avi Buffalo. O vocalista Avigdor Zahner-Isenberg dirigiu-se logo ao público, apresentou a banda e durante todo o concerto foi falando. O repertório contou com temas novos e antigos. O som continuava longe de bom, com o público a dispor-se no recinto de forma estranha, com vazios enormes em frente de ambas as colunas. “How Come” e a já conhecida “What’s in it for?” foram algumas das músicas que entretiveram o público enquanto o palco Optimus não abria.
Seguiu-se a banda californiana Avi Buffalo. O vocalista Avigdor Zahner-Isenberg dirigiu-se logo ao público, apresentou a banda e durante todo o concerto foi falando. O repertório contou com temas novos e antigos. O som continuava longe de bom, com o público a dispor-se no recinto de forma estranha, com vazios enormes em frente de ambas as colunas. “How Come” e a já conhecida “What’s in it for?” foram algumas das músicas que entretiveram o público enquanto o palco Optimus não abria.
 Os Twilight Singers inauguraram o palco principal e mostraram ser uma boa ainda que deslocada aposta. Greg Dulli, nome maior do rock, com uma carreira com mais de vinte anos em bandas como os The Afghan Whigs ou estes seus Twilight Singers, deu no ano passado um belíssimo e íntimo concerto no Santiago Alquimista, onde reviveu em arranjos calmos os temas de toda a sua carreira. Foi curioso vê-lo agora num palco grande como aquele, em modo rock de estádio feito sempre com bom gosto, que nunca surpreende mas também nunca desilude. Os Twilight Singers sempre foram uma bela banda e mostraram isso mesmo à multidão curiosa que os esperava ao fim da tarde.
Os Twilight Singers inauguraram o palco principal e mostraram ser uma boa ainda que deslocada aposta. Greg Dulli, nome maior do rock, com uma carreira com mais de vinte anos em bandas como os The Afghan Whigs ou estes seus Twilight Singers, deu no ano passado um belíssimo e íntimo concerto no Santiago Alquimista, onde reviveu em arranjos calmos os temas de toda a sua carreira. Foi curioso vê-lo agora num palco grande como aquele, em modo rock de estádio feito sempre com bom gosto, que nunca surpreende mas também nunca desilude. Os Twilight Singers sempre foram uma bela banda e mostraram isso mesmo à multidão curiosa que os esperava ao fim da tarde.  Concerto energético, com um Dulli a quem a idade não pesa, de um rock clássico onde as guitarras imperam com alguns belíssimos toques de violino. Quem não conhecia (todo o público, aparentemente), certamente deverá ter ficado com vontade de ouvir mais; quem já conhecia, dificilmente terá apanhado uma desilusão. Um concerto dado com energia por um frontman exemplar, que faz rock de veia clássica como poucos conseguem. Se deviam estar ou não num palco principal onde mais tarde tocariam nomes sonantes como os Coldplay ou os Blondie, isso já é outra história.
Concerto energético, com um Dulli a quem a idade não pesa, de um rock clássico onde as guitarras imperam com alguns belíssimos toques de violino. Quem não conhecia (todo o público, aparentemente), certamente deverá ter ficado com vontade de ouvir mais; quem já conhecia, dificilmente terá apanhado uma desilusão. Um concerto dado com energia por um frontman exemplar, que faz rock de veia clássica como poucos conseguem. Se deviam estar ou não num palco principal onde mais tarde tocariam nomes sonantes como os Coldplay ou os Blondie, isso já é outra história.
 Quando os norte-americanos Mona entraram em palco, mais de metade do recinto do palco Super Bock estava sentado. Antes de iniciar o espectáculo, o vocalista Nick Brown gritou “get up, this is a rock and roll festival!”, que resultou. O público foi aumentando e aproximando-se da frente do palco durante o concerto e a banda conseguiu um bom espectáculo. Contavam-se alguns fãs que entoaram as letras de temas como “Listen to Your Love”, um dos singles da banda.
Quando os norte-americanos Mona entraram em palco, mais de metade do recinto do palco Super Bock estava sentado. Antes de iniciar o espectáculo, o vocalista Nick Brown gritou “get up, this is a rock and roll festival!”, que resultou. O público foi aumentando e aproximando-se da frente do palco durante o concerto e a banda conseguiu um bom espectáculo. Contavam-se alguns fãs que entoaram as letras de temas como “Listen to Your Love”, um dos singles da banda.
 Os Grouplove, banda indie rock que se viu ali à frente de uma multidão no palco principal daquele que é, para todos os efeitos, o maior festival do país. Soaram durante todo o concerto a algo que ouviríamos no palco Super Bock ou até mesmo no Clubbing, e mostraram em palco a inexperiência de uma banda demasiado jovem para conseguir convencer um público como aquele. Soam iguais a tantos outros, em palco tocam de forma igual a tantos outros, e deram um concerto que dificilmente terá ficado na memória dos presentes, onde as vozes dos vocalistas e os riffs de guitarra soam a algo que já foi ouvido milhares de vezes antes. A isso se junte problemas de som que minaram o início do espectáculo e o resultado não pode ser positivo. Uma aposta sem sentido.
Os Grouplove, banda indie rock que se viu ali à frente de uma multidão no palco principal daquele que é, para todos os efeitos, o maior festival do país. Soaram durante todo o concerto a algo que ouviríamos no palco Super Bock ou até mesmo no Clubbing, e mostraram em palco a inexperiência de uma banda demasiado jovem para conseguir convencer um público como aquele. Soam iguais a tantos outros, em palco tocam de forma igual a tantos outros, e deram um concerto que dificilmente terá ficado na memória dos presentes, onde as vozes dos vocalistas e os riffs de guitarra soam a algo que já foi ouvido milhares de vezes antes. A isso se junte problemas de som que minaram o início do espectáculo e o resultado não pode ser positivo. Uma aposta sem sentido.
 No palco Super Bock, James Blake confirmou um triste facto: há concertos de determinados géneros que não funcionam em tendas ao fim da tarde, com um som que podia ser melhor. Não lhe podemos apontar falhas: a voz é tão bela quanto em disco, e a nível técnico Blake (apoiado por mais dois músicos, incluindo um dos dois membros dos Mount Kimbie, magnífica banda do mesmo género) sabe o que faz, mas tudo soou frio e desconexo, mesmo com o público a mostrar-se conhecedor e muito receptivo ao som do jovem. Ali, naquele local e com um som francamente mau para um dubstep complexo e que vive à base de camadas, a música de Blake perde sentido. Resta esperar que alguém o traga agora a um Lux ou um Musicbox.
No palco Super Bock, James Blake confirmou um triste facto: há concertos de determinados géneros que não funcionam em tendas ao fim da tarde, com um som que podia ser melhor. Não lhe podemos apontar falhas: a voz é tão bela quanto em disco, e a nível técnico Blake (apoiado por mais dois músicos, incluindo um dos dois membros dos Mount Kimbie, magnífica banda do mesmo género) sabe o que faz, mas tudo soou frio e desconexo, mesmo com o público a mostrar-se conhecedor e muito receptivo ao som do jovem. Ali, naquele local e com um som francamente mau para um dubstep complexo e que vive à base de camadas, a música de Blake perde sentido. Resta esperar que alguém o traga agora a um Lux ou um Musicbox.
 Debbie Harry tem 66 anos e, ao contrário de Greg Dulli, Nick Cave, Iggy Pop ou Perry Farrell, a idade pesa, e não é pouco. A voz falha, a presença não é a mesma, e ao início o concerto dos Blondie (que, com a cor de cabelo da vocalista, deviam passar a ser os Whitey) mostrou-se triste e decadente. Felizmente, ter uma boa banda por trás ajuda, e eventualmente as coisas encaminharam-se na direcção certa. Debbie usa os truques do costume para disfarçar as falhas (pede várias vezes ao público para cantar por ela, ou então simplesmente deixa de cantar do nada a meio de um refrão), e apoia-se num bom baterista e um excelente guitarrista para dar ao público o que ele quer: os clássicos de antigamente.
Debbie Harry tem 66 anos e, ao contrário de Greg Dulli, Nick Cave, Iggy Pop ou Perry Farrell, a idade pesa, e não é pouco. A voz falha, a presença não é a mesma, e ao início o concerto dos Blondie (que, com a cor de cabelo da vocalista, deviam passar a ser os Whitey) mostrou-se triste e decadente. Felizmente, ter uma boa banda por trás ajuda, e eventualmente as coisas encaminharam-se na direcção certa. Debbie usa os truques do costume para disfarçar as falhas (pede várias vezes ao público para cantar por ela, ou então simplesmente deixa de cantar do nada a meio de um refrão), e apoia-se num bom baterista e um excelente guitarrista para dar ao público o que ele quer: os clássicos de antigamente.  O resultado acaba por ser positivo, ou pelo menos divertido, e como não o poderia ser com canções como “Maria” (que, surpreendentemente, não era tocada há imenso tempo, segundo a vocalista) ou “Call Me?”. Torna-se bom ver Debbie saltar, pedir ao público que cante, mostrando que, aos 66 anos, ainda se diverte com o que faz; e nós, claro, acabamos por gostar também. Teve as suas falhas, e não foram poucas (assassinaram a “Heart of Glass”, com aquele riff de guitarra que apagava os teclados quase por completo), mas foi difícil não gostar. Os clássicos são intemporais, Debbie depois de aquecer ainda está ali para as curvas, e é sempre bom estar no meio de uma multidão a cantar aqueles refrões orelhudos que gerações conhecem. No início temeu-se o pior, mas acabou por valer muito a pena.
O resultado acaba por ser positivo, ou pelo menos divertido, e como não o poderia ser com canções como “Maria” (que, surpreendentemente, não era tocada há imenso tempo, segundo a vocalista) ou “Call Me?”. Torna-se bom ver Debbie saltar, pedir ao público que cante, mostrando que, aos 66 anos, ainda se diverte com o que faz; e nós, claro, acabamos por gostar também. Teve as suas falhas, e não foram poucas (assassinaram a “Heart of Glass”, com aquele riff de guitarra que apagava os teclados quase por completo), mas foi difícil não gostar. Os clássicos são intemporais, Debbie depois de aquecer ainda está ali para as curvas, e é sempre bom estar no meio de uma multidão a cantar aqueles refrões orelhudos que gerações conhecem. No início temeu-se o pior, mas acabou por valer muito a pena.
 O público não era muito, mas contavam-se bastantes fãs que aguardavam a entrada de Anna Calvi no palco Super Bock. A londrina, cujo primeiro álbum data deste ano, reuniu rapidamente admiradores com o seu som original e músicas ricas em arranjos com os mais variados instrumentos. “Rider To The Sea” deu início ao que seria um dos espectáculos mais bem conseguidos do Optimus Alive!. O som apresentou-se consideravelmente melhor durante esta actuação. Temas como “Suzanne and I” e “I’ll Be Your Man” deixaram todos boquiabertos perante aquela voz tão potente. Apesar disso, Anna revelou-se algo timída quando se dirigia ao público, de voz muito baixinha, quase a sussurrar. Houve tempo para uma cover de “Surrender” de Elvis Presley, antes do conhecido single “Desire”. “Love Won’t Be Leaving” encerrou o que, provavelmente, foi O concerto do palco Super Bock do dia 6. Enquanto o palco Optimus enchia a olhos vistos, o palco Super Bock perdia público.
O público não era muito, mas contavam-se bastantes fãs que aguardavam a entrada de Anna Calvi no palco Super Bock. A londrina, cujo primeiro álbum data deste ano, reuniu rapidamente admiradores com o seu som original e músicas ricas em arranjos com os mais variados instrumentos. “Rider To The Sea” deu início ao que seria um dos espectáculos mais bem conseguidos do Optimus Alive!. O som apresentou-se consideravelmente melhor durante esta actuação. Temas como “Suzanne and I” e “I’ll Be Your Man” deixaram todos boquiabertos perante aquela voz tão potente. Apesar disso, Anna revelou-se algo timída quando se dirigia ao público, de voz muito baixinha, quase a sussurrar. Houve tempo para uma cover de “Surrender” de Elvis Presley, antes do conhecido single “Desire”. “Love Won’t Be Leaving” encerrou o que, provavelmente, foi O concerto do palco Super Bock do dia 6. Enquanto o palco Optimus enchia a olhos vistos, o palco Super Bock perdia público.
 These New Puritans começaram a tocar para poucas pessoas, mas rapidamente ganharam mais espectadores. Detentores de “Hidden”, considerado por muitas revistas de música como o melhor álbum de 2010, há que ter em conta que a vertente conceptual do álbum é bastante pesada e não é das coisas mais fáceis de digerir. Ainda assim, temas como “We Want War” “Three Thousand” ou “Attack Music” fizeram as delícias dos poucos fãs presentes. O vocalista Jack Barnett agradeceu após todos os temas e apresentou uma novidade, “Vibes”.
These New Puritans começaram a tocar para poucas pessoas, mas rapidamente ganharam mais espectadores. Detentores de “Hidden”, considerado por muitas revistas de música como o melhor álbum de 2010, há que ter em conta que a vertente conceptual do álbum é bastante pesada e não é das coisas mais fáceis de digerir. Ainda assim, temas como “We Want War” “Three Thousand” ou “Attack Music” fizeram as delícias dos poucos fãs presentes. O vocalista Jack Barnett agradeceu após todos os temas e apresentou uma novidade, “Vibes”.
 Os Coldplay foram, indiscutivelmente, o grande nome desta quinta edição do Alive, e isso viu-se nem que fosse pela gigantesca multidão de milhares e milhares que desde o fim da tarde os esperava em frente ao palco. Nos últimos anos ganharam uma dimensão que os meteu a tocar em estádios e a ser cabeças-de-cartaz de alguns dos maiores festivais do mundo e, infelizmente, ao vivo não justificam tal tamanho. Num concerto que foi bom mas que raramente ascendeu acima disso, os Coldplay mostram que ao vivo soam… bem, a Coldplay.
Os Coldplay foram, indiscutivelmente, o grande nome desta quinta edição do Alive, e isso viu-se nem que fosse pela gigantesca multidão de milhares e milhares que desde o fim da tarde os esperava em frente ao palco. Nos últimos anos ganharam uma dimensão que os meteu a tocar em estádios e a ser cabeças-de-cartaz de alguns dos maiores festivais do mundo e, infelizmente, ao vivo não justificam tal tamanho. Num concerto que foi bom mas que raramente ascendeu acima disso, os Coldplay mostram que ao vivo soam… bem, a Coldplay.  As canções, mesmo com balões gigantes e confettis, não crescem particularmente, e se os clássicos conseguem proporcionar sem dúvida alguns belíssimos momentos (“Clocks”, já em encore, surge logo à cabeça), as canções mais recentes fazem com que o concerto perca fulgor, algo que se viu por um público que apenas se ouviu mais nos singles. Falta a Chris Martin carisma, e as suas intervenções (muitos “Está tudo bem aí em baixo?”) soaram a pura rotina. Não há-de ter sido por nada que o músico disse não se lembrar qual tinha sido a última cidade em que tocaram da última vez que cá estiveram (exactamente a mesma onde estava a tocar enquanto admitia isso). O espectáculo, por si só, também não impressiona particularmente: um bom jogo de luz com lasers à mistura, balões, confettis e, ao fundo do palco, ecrãs gigantes.
As canções, mesmo com balões gigantes e confettis, não crescem particularmente, e se os clássicos conseguem proporcionar sem dúvida alguns belíssimos momentos (“Clocks”, já em encore, surge logo à cabeça), as canções mais recentes fazem com que o concerto perca fulgor, algo que se viu por um público que apenas se ouviu mais nos singles. Falta a Chris Martin carisma, e as suas intervenções (muitos “Está tudo bem aí em baixo?”) soaram a pura rotina. Não há-de ter sido por nada que o músico disse não se lembrar qual tinha sido a última cidade em que tocaram da última vez que cá estiveram (exactamente a mesma onde estava a tocar enquanto admitia isso). O espectáculo, por si só, também não impressiona particularmente: um bom jogo de luz com lasers à mistura, balões, confettis e, ao fundo do palco, ecrãs gigantes.  Nada que consiga disfarçar um simples facto: os Coldplay, ao vivo, não são nada de mais. Se estas são as grandes bandas da actualidade, estamos com problemas. Concerto agradável e sempre competente, com alguns óptimos momentos (“Yellow”, cantada por milhares em uníssono, e a épica “Viva La Vida”, por exemplo), mas nada mais que isso. E, pelo que se ouvia dizer o público à saída, hora-e-meia acabou por saber a pouco.
Nada que consiga disfarçar um simples facto: os Coldplay, ao vivo, não são nada de mais. Se estas são as grandes bandas da actualidade, estamos com problemas. Concerto agradável e sempre competente, com alguns óptimos momentos (“Yellow”, cantada por milhares em uníssono, e a épica “Viva La Vida”, por exemplo), mas nada mais que isso. E, pelo que se ouvia dizer o público à saída, hora-e-meia acabou por saber a pouco.
 A noite acaba com Example, não sem antes de Patrick Wolf piscar o olho ao oalco principal ao começar o concerto com uma bela cover de “Yellow”. O lobo está mais calmo e surge em palco menos extravagante do que se esperava (bem, parece que agora usa mais roupa…), mas mais controlado e talentoso enquanto músico. Parece honesto em todas as vezes que fala com o público, e ainda mais quando vai até ele e beija uma das mãos que o agarra; se há músicos que gostam verdadeiramente de cá vir tocar, ele é um deles. Num alinhamento que tanto contemplou temas de antes (grande, grande The Magic Position, que encerrou o concerto) como os do novo disco, foi notável a qualidade consistente de todo o espectáculo; se é verdade que em disco as canções novas não convencem particularmente, ao vivo crescem e transformam-se em explosões pop, graças a um quinteto que apoia Wolf na perfeição e ao próprio vocalista, que é cada vez melhor no que faz. Quem diria que The City, por exemplo, resultaria assim tão bem ao vivo? O público reagiu de forma efusiva do início ao fim, numa tenda muito bem composta (os Coldplay já tinham acabado), e foi curioso ver fãs do cantor de todas as idades: desde casais nos seus quarenta a jovens nos seus doze (literalmente). Um concerto triunfante e exemplar, que proporcionou um excelente fim para um primeiro dia que não o foi.
A noite acaba com Example, não sem antes de Patrick Wolf piscar o olho ao oalco principal ao começar o concerto com uma bela cover de “Yellow”. O lobo está mais calmo e surge em palco menos extravagante do que se esperava (bem, parece que agora usa mais roupa…), mas mais controlado e talentoso enquanto músico. Parece honesto em todas as vezes que fala com o público, e ainda mais quando vai até ele e beija uma das mãos que o agarra; se há músicos que gostam verdadeiramente de cá vir tocar, ele é um deles. Num alinhamento que tanto contemplou temas de antes (grande, grande The Magic Position, que encerrou o concerto) como os do novo disco, foi notável a qualidade consistente de todo o espectáculo; se é verdade que em disco as canções novas não convencem particularmente, ao vivo crescem e transformam-se em explosões pop, graças a um quinteto que apoia Wolf na perfeição e ao próprio vocalista, que é cada vez melhor no que faz. Quem diria que The City, por exemplo, resultaria assim tão bem ao vivo? O público reagiu de forma efusiva do início ao fim, numa tenda muito bem composta (os Coldplay já tinham acabado), e foi curioso ver fãs do cantor de todas as idades: desde casais nos seus quarenta a jovens nos seus doze (literalmente). Um concerto triunfante e exemplar, que proporcionou um excelente fim para um primeiro dia que não o foi.
7 de Julho de 2011
 No segundo dia, tudo começou bem. Os Crocodiles, banda de rock com toques de psicadelismo, tiveram à sua espera uma tenda composta para o início dos concertos do dia no palco Super Bock. Energéticos, com carisma, e com um guitarrista que só não partiu nenhuma corda porque não calhou, a banda justificou as boas críticas que o seu segundo disco, Sleep Forever, recebeu aquando o seu lançamento. Guitarras em modo noise, vocalista dançante e que dedicou uma música a um membro do público (e o rapaz bem merecia, cantou e saltou em todas as músicas), e um concerto onde tudo assentou bem e que proporcionou um auspicioso início para o dia de concertos, com o público sempre convencido com o que ouvia. Agora é esperar um regresso a solo. Momentos mais altos? Provavelmente a faixa que dá o título ao disco, e a bela “Mirrors”.
No segundo dia, tudo começou bem. Os Crocodiles, banda de rock com toques de psicadelismo, tiveram à sua espera uma tenda composta para o início dos concertos do dia no palco Super Bock. Energéticos, com carisma, e com um guitarrista que só não partiu nenhuma corda porque não calhou, a banda justificou as boas críticas que o seu segundo disco, Sleep Forever, recebeu aquando o seu lançamento. Guitarras em modo noise, vocalista dançante e que dedicou uma música a um membro do público (e o rapaz bem merecia, cantou e saltou em todas as músicas), e um concerto onde tudo assentou bem e que proporcionou um auspicioso início para o dia de concertos, com o público sempre convencido com o que ouvia. Agora é esperar um regresso a solo. Momentos mais altos? Provavelmente a faixa que dá o título ao disco, e a bela “Mirrors”.
 Reunia-se uma multidão considerável quando os britânicos Everything Everything subiram ao palco de fato-macaco e “Qwerty Finger” deu início ao concerto. O público gostou e muitos dançavam. Os espectadores eram cada vez mais mas a banda não conseguiu dar continuidade à energia do primeiro tema. Foi apenas com os últimos dois temas “MY KZ, UR BF” e “Schoolin’” que o público foi reconquistado e o espectáculo teve, assim, um final melhor que a totalidade do concerto.
Reunia-se uma multidão considerável quando os britânicos Everything Everything subiram ao palco de fato-macaco e “Qwerty Finger” deu início ao concerto. O público gostou e muitos dançavam. Os espectadores eram cada vez mais mas a banda não conseguiu dar continuidade à energia do primeiro tema. Foi apenas com os últimos dois temas “MY KZ, UR BF” e “Schoolin’” que o público foi reconquistado e o espectáculo teve, assim, um final melhor que a totalidade do concerto.
 A abrir o palco Optimus no dia 7, estiveram os norte-americanos Jimmy Eat World. Embora o recinto estivesse cheio de gente, eram poucos os entusiastas. O tema escolhido para começar foi “Bleed American”, seguido de um repertório curto que incluiu temas como “Big Casino” e “Blister”. “My Best Theory” foi o único tema do mais recente trabalho da banda, “Invented”, sendo também o single de estreia do álbum. Para o fim ficou a favorita “The Middle”, entoada a plenos pulmões pela multidão.
A abrir o palco Optimus no dia 7, estiveram os norte-americanos Jimmy Eat World. Embora o recinto estivesse cheio de gente, eram poucos os entusiastas. O tema escolhido para começar foi “Bleed American”, seguido de um repertório curto que incluiu temas como “Big Casino” e “Blister”. “My Best Theory” foi o único tema do mais recente trabalho da banda, “Invented”, sendo também o single de estreia do álbum. Para o fim ficou a favorita “The Middle”, entoada a plenos pulmões pela multidão.
 O recinto do palco Super Bock estava cheio quando a banda Bombay Bicycle Club entrou em palco. Os fãs eram muitos e cantaram “Magnet”, que abriu o concerto com fervor. “Dust on the Ground” e “Evening/Morning” foram outras das favoritas. A banda rendeu-se ao afecto dos fãs e revelou ter gostado tanto de Portugal que talvez tirassem as próximas férias no país. Bastante novos ainda, os londrinos são, sem dúvida, uma banda a manter debaixo de olho. Com dois álbuns já editados e tendo formado a banda por volta dos 15 anos, é inegável que estes “miúdos” fazem música de qualidade, com arranjos que não deixam ninguém indiferente. Para o fim ficou “The Hill”, tema cheio de energia e óptima banda sonora para o Verão que ainda agora começou.
O recinto do palco Super Bock estava cheio quando a banda Bombay Bicycle Club entrou em palco. Os fãs eram muitos e cantaram “Magnet”, que abriu o concerto com fervor. “Dust on the Ground” e “Evening/Morning” foram outras das favoritas. A banda rendeu-se ao afecto dos fãs e revelou ter gostado tanto de Portugal que talvez tirassem as próximas férias no país. Bastante novos ainda, os londrinos são, sem dúvida, uma banda a manter debaixo de olho. Com dois álbuns já editados e tendo formado a banda por volta dos 15 anos, é inegável que estes “miúdos” fazem música de qualidade, com arranjos que não deixam ninguém indiferente. Para o fim ficou “The Hill”, tema cheio de energia e óptima banda sonora para o Verão que ainda agora começou.
 Seasick Steve é um senhor de setenta anos que toca em guitarras de três cordas (ou menos), feitas a partir de paus ou caixas de coisas que colecciona. Tem uma barba longa, a energia de quem nem aos cinquenta chegou, uma história de vida como poucos (viveu na rua, teve o Kurt Cobain como amigo, tocou no metro, e não precisou de contar porque sabemos, foi pescado por Jack White, etc. etc.), e um talento como ainda menos possuem. Naquele que foi um dos melhores concertos do dia e talvez um dos melhores de todo o festival, Steven Wold e o seu baterista deram um verdadeiro espectáculo onde o que interessou foi a música e quem a tocava.
Seasick Steve é um senhor de setenta anos que toca em guitarras de três cordas (ou menos), feitas a partir de paus ou caixas de coisas que colecciona. Tem uma barba longa, a energia de quem nem aos cinquenta chegou, uma história de vida como poucos (viveu na rua, teve o Kurt Cobain como amigo, tocou no metro, e não precisou de contar porque sabemos, foi pescado por Jack White, etc. etc.), e um talento como ainda menos possuem. Naquele que foi um dos melhores concertos do dia e talvez um dos melhores de todo o festival, Steven Wold e o seu baterista deram um verdadeiro espectáculo onde o que interessou foi a música e quem a tocava.  A tenda, surpreendentemente cheia, recebeu-o de braços abertos, reagindo a cada palavra, cada acorde, saltando sem fim perante aqueles blues que parecem saídos da alma. “Esta guitarra é uma trampa, nem sei porque é que a toco. Mas alguém tem que o fazer”, diz a certa altura, mostrando a sua guitarra eléctrica que parece tão velha quanto quem a toca. Agradece frequentemente, com palavras honestas mas ditas sempre com a presença de quem viveu mais que qualquer outro na plateia, e chama até uma rapariga ao palco para um momento romântico. Na última canção vai contando a sua história (fugiu de casa porque o padrasto lhe batia), e alonga o refrão e consecutiva explosão até ao infinito. É uma presença única, um músico enormemente talentoso, e deu um concerto que tão cedo não sairá da memória dos presentes.
A tenda, surpreendentemente cheia, recebeu-o de braços abertos, reagindo a cada palavra, cada acorde, saltando sem fim perante aqueles blues que parecem saídos da alma. “Esta guitarra é uma trampa, nem sei porque é que a toco. Mas alguém tem que o fazer”, diz a certa altura, mostrando a sua guitarra eléctrica que parece tão velha quanto quem a toca. Agradece frequentemente, com palavras honestas mas ditas sempre com a presença de quem viveu mais que qualquer outro na plateia, e chama até uma rapariga ao palco para um momento romântico. Na última canção vai contando a sua história (fugiu de casa porque o padrasto lhe batia), e alonga o refrão e consecutiva explosão até ao infinito. É uma presença única, um músico enormemente talentoso, e deu um concerto que tão cedo não sairá da memória dos presentes.
 Os My Chemical Romance ainda estão vivos, mas diferentes. Ou antes, talvez não estejam diferentes, o mundo é que entretanto mudou e eles não. Gerard Way continua espalhafatoso (cabelo vermelho, ui), berra ao microfone como se não houvesse amanhã (se o som do palco estava mau, ainda pior ficou…), e as canções novas não convencem. O público estava, surpreendentemente, apático, face a uma banda que há anos atrás tinha uma geração inteira aos seus pés. Tocaram muito do novo álbum, guardando mais para o fim os clássicos do costume que o público mais à frente recebeu com gritos e saltos (“Helena”, claro, e “Famous Last Words” no topo da lista).
Os My Chemical Romance ainda estão vivos, mas diferentes. Ou antes, talvez não estejam diferentes, o mundo é que entretanto mudou e eles não. Gerard Way continua espalhafatoso (cabelo vermelho, ui), berra ao microfone como se não houvesse amanhã (se o som do palco estava mau, ainda pior ficou…), e as canções novas não convencem. O público estava, surpreendentemente, apático, face a uma banda que há anos atrás tinha uma geração inteira aos seus pés. Tocaram muito do novo álbum, guardando mais para o fim os clássicos do costume que o público mais à frente recebeu com gritos e saltos (“Helena”, claro, e “Famous Last Words” no topo da lista).  Way salta pelo palco, chama pelo público, com uma energia à qual falta voz e algo a dizer (a sério Gerard, será que tens de gritar tanto?). O seu tempo já passou e vivem apenas das glórias do passado. Glórias essas que, feliz ou infelizmente, começam a desaparecer.
Way salta pelo palco, chama pelo público, com uma energia à qual falta voz e algo a dizer (a sério Gerard, será que tens de gritar tanto?). O seu tempo já passou e vivem apenas das glórias do passado. Glórias essas que, feliz ou infelizmente, começam a desaparecer.
Não eram muitos aqueles que aguardavam a entrada de Kele em cena. Maioritariamente fãs e alguns curiosos que aproveitavam enquanto Foo Fighters não começavam no palco Optimus. No entanto, alguns problemas técnicos atrasaram a entrada do músico, o que provocou o abandono de algum público. Quando Kele finalmente entrou em palco, desejou as boas-vindas aos presentes e apresentou-se, bem-disposto, como sempre. “Walk Tall” fez as honras, seguida de “On the Lam” e “Everything You Wanted”. Os fãs deliciavam-se com os passos de dança do cantor e a energia de sempre. Como já tinha acontecido no Super Bock em Stock, em Dezembro, o britânico trouxe também na bagagem um medley de Bloc Party, que incluiu “Blue Light” e “The Prayer”.
Com Zé Pedro novamente em palco, o concerto de Xutos & Pontapés foi o que se esperava. Os clássicos de sempre, com alguns repescados de antigamento (golpe inspirado, abrir com Sémen), e um público que conhece as letras das canções mais conhecidas, como seria de esperar. As mais recentes, do último disco, não pareceram resultar tão bem, mas no geral foi o que se esperava: mais um momento entre família.
 Não há meio termo: Iggy Pop é incrível, deu um concerto magnífico, e foi triste e irritante ver um público que não soube apreciar aquela actuação histórica e sem falhas que lhe era dada de bandeja. Iggy entra em palco com os Stooges já em tronco nu, a saltar e a dançar como se um jovem fosse, e atira-se logo a “Raw Power”, como que a dizer “Adoro-vos, e é isto que vocês querem”. Chama público ao palco, vai várias vezes até ele, acena gritando “Olá! Eu vejo-vos a todos!”, e faz o máximo dos máximos para quebrar aquela barreira que há sempre entre um público tão numeroso e uma banda em concertos de festival (não foi por nada que mandou merecidamente o festival à m****).
Não há meio termo: Iggy Pop é incrível, deu um concerto magnífico, e foi triste e irritante ver um público que não soube apreciar aquela actuação histórica e sem falhas que lhe era dada de bandeja. Iggy entra em palco com os Stooges já em tronco nu, a saltar e a dançar como se um jovem fosse, e atira-se logo a “Raw Power”, como que a dizer “Adoro-vos, e é isto que vocês querem”. Chama público ao palco, vai várias vezes até ele, acena gritando “Olá! Eu vejo-vos a todos!”, e faz o máximo dos máximos para quebrar aquela barreira que há sempre entre um público tão numeroso e uma banda em concertos de festival (não foi por nada que mandou merecidamente o festival à m****).  Velhos são os trapos, e isto é tão válido para Iggy quanto para toda a banda, que toca com uma energia e um carisma que nos envergonha a nós e a toda a nossa geração. Foi rock como já não se faz, dado por um frontman como já não se fazem (e houve muitos destes, nesta edição do Alive), num alinhamento magnífico (ai ai, aquela “I Wanna be Your Dog” no encore…). A única falha foi, portanto, o público. Parado, sem reagir àquela onda de energia pura, provavelmente a pensar na banda que viria a seguir. Um público provavelmente jovem, com uma educação bastante fraca (não só musicalmente – estamos a falar com vocês, pessoas que apontavam lasers aos músicos) que não soube reconhecer a grandiosidade quando a viu. Iggy Pop foi, é e sempre será grande. E, como tal, deu um grande concerto. Tão simples quanto isso.
Velhos são os trapos, e isto é tão válido para Iggy quanto para toda a banda, que toca com uma energia e um carisma que nos envergonha a nós e a toda a nossa geração. Foi rock como já não se faz, dado por um frontman como já não se fazem (e houve muitos destes, nesta edição do Alive), num alinhamento magnífico (ai ai, aquela “I Wanna be Your Dog” no encore…). A única falha foi, portanto, o público. Parado, sem reagir àquela onda de energia pura, provavelmente a pensar na banda que viria a seguir. Um público provavelmente jovem, com uma educação bastante fraca (não só musicalmente – estamos a falar com vocês, pessoas que apontavam lasers aos músicos) que não soube reconhecer a grandiosidade quando a viu. Iggy Pop foi, é e sempre será grande. E, como tal, deu um grande concerto. Tão simples quanto isso.
 A seguir, viria outro ícone (quer se goste quer não): Dave Grohl e os seus Foo Fighters. Multidão enorme, naquele que viria a ser o segundo dia mais cheio do festival, e aquele que viu o público mais devoto… e com razões para isso. Duas horas e meia em que se viu um grandioso espectáculo de rock, daquele épico, que enche estádios e põe multidões a saltar, mas feito sempre com gosto, sem nunca cair no facilitismo, e sempre tocado com a maior da dedicação. Dave Grohl é, provavelmente, um dos grandes frontmans da actualidade: transpira carisma e confiança, emana energia e experiência, e o concerto foi o reflexo disso mesmo.
A seguir, viria outro ícone (quer se goste quer não): Dave Grohl e os seus Foo Fighters. Multidão enorme, naquele que viria a ser o segundo dia mais cheio do festival, e aquele que viu o público mais devoto… e com razões para isso. Duas horas e meia em que se viu um grandioso espectáculo de rock, daquele épico, que enche estádios e põe multidões a saltar, mas feito sempre com gosto, sem nunca cair no facilitismo, e sempre tocado com a maior da dedicação. Dave Grohl é, provavelmente, um dos grandes frontmans da actualidade: transpira carisma e confiança, emana energia e experiência, e o concerto foi o reflexo disso mesmo.  Dificilmente não se terá gostado de um espectáculo assim, consistente e impressionante ao longo das suas duas horas e meia, com uma banda exemplar em tudo o que fez e tocou. Os singles estiveram lá todos ao longo de um longo alinhamento de mais de vinte músicas, e o público cantou e saltou em todos eles; foi, tal como já aqui se disse, o público mais devoto que o festival viu, o que só ajudou a tornar o concerto a ser ainda melhor. Tudo tocado sem falhas, com pausas a meio de canções para criar expectativa, e interlúdios com Grohl a mostrar que é tão bom na guitarra quanto foi uma vez na bateria, numa certa banda que infelizmente já desapareceu. “Estão aqui para ouvir muitas canções, não é? É isso que esperam, certo? Temos muitos discos, afinal de contas”, disse a certa altura.
Dificilmente não se terá gostado de um espectáculo assim, consistente e impressionante ao longo das suas duas horas e meia, com uma banda exemplar em tudo o que fez e tocou. Os singles estiveram lá todos ao longo de um longo alinhamento de mais de vinte músicas, e o público cantou e saltou em todos eles; foi, tal como já aqui se disse, o público mais devoto que o festival viu, o que só ajudou a tornar o concerto a ser ainda melhor. Tudo tocado sem falhas, com pausas a meio de canções para criar expectativa, e interlúdios com Grohl a mostrar que é tão bom na guitarra quanto foi uma vez na bateria, numa certa banda que infelizmente já desapareceu. “Estão aqui para ouvir muitas canções, não é? É isso que esperam, certo? Temos muitos discos, afinal de contas”, disse a certa altura.  Era, e foi o que o público recebeu. Concertos assim em festivais são raros. Dave Grohl defendeu bem toda a legião de fãs que o acompanha (mal tinha uma pinga de suor, no final do concerto), correndo pelo palco, chamando pelo público, e entregando, tal como toda a banda, uma actuação sem falhas. Um concerto da vida de muita gente, sem dúvidas. E um grande concerto para grande parte dos restantes. Digo eu, que nem gostava muito deles mas que saí de lá mais que conquistado, sem uma pinga de aborrecimento ao longo de duas horas e meia…
Era, e foi o que o público recebeu. Concertos assim em festivais são raros. Dave Grohl defendeu bem toda a legião de fãs que o acompanha (mal tinha uma pinga de suor, no final do concerto), correndo pelo palco, chamando pelo público, e entregando, tal como toda a banda, uma actuação sem falhas. Um concerto da vida de muita gente, sem dúvidas. E um grande concerto para grande parte dos restantes. Digo eu, que nem gostava muito deles mas que saí de lá mais que conquistado, sem uma pinga de aborrecimento ao longo de duas horas e meia…
Pelo Palco Clubbing, passavam até altas horas nomes da editora Enchufada, que o ano passado deixou a sua marca no mesmo local. Desta vez, foram nomes como Buraka Som Sistema e Da Chick e que compensavam a falha redonda do dia anterior.
A encerrar o dia, Teratron no Palco Super Bock exibia um grande balcão auto-publicitário e entretinha os fãs do que se seguia. Os ex-Da Weasel João Nobre e Pedro Quaresma encheram o palco Super Bock com os seus temas, retirados do álbum conceptual “As Cobaias”, que conta a história de várias personagens, criada por Adolfo Luxúria Canibal.
 Os The Bloody Beetroots, já repetentes deste palco, chegaram de surpresa na bagagem. Em vez de Steve Aoki (que se iria mostrar no dia a seguir), trouxeram consigo alguém que passa demasiado despercebido para o impacto que já teve noutros tempos. Apesar de Roborama predominar no set, os italianos trouxeram Dennis Lyxzén, vocalista dos Refused, para três temas de entre os quais “New Noise”, da sua defunta banda. A energia do quase quarentão não deixou ninguém indiferente, entre cambalhotas e danças bem ensaiadas ao longo dos três temas em que entrou, a idade não passa por ele. Poucos o saberiam, mas aquela figura já havia pisado aquele mesmo palco, na altura com outro nome, com The (International) Noise Conspiracy. Uma personagem fundamental para o óptimo concerto que os Bloody Betroots reservaram para o final de dia. “Warp 1.9” evidentemente, tratou do delírio de centenas de pessoas que não quiseram deixar de fora um pé de dança.
Os The Bloody Beetroots, já repetentes deste palco, chegaram de surpresa na bagagem. Em vez de Steve Aoki (que se iria mostrar no dia a seguir), trouxeram consigo alguém que passa demasiado despercebido para o impacto que já teve noutros tempos. Apesar de Roborama predominar no set, os italianos trouxeram Dennis Lyxzén, vocalista dos Refused, para três temas de entre os quais “New Noise”, da sua defunta banda. A energia do quase quarentão não deixou ninguém indiferente, entre cambalhotas e danças bem ensaiadas ao longo dos três temas em que entrou, a idade não passa por ele. Poucos o saberiam, mas aquela figura já havia pisado aquele mesmo palco, na altura com outro nome, com The (International) Noise Conspiracy. Uma personagem fundamental para o óptimo concerto que os Bloody Betroots reservaram para o final de dia. “Warp 1.9” evidentemente, tratou do delírio de centenas de pessoas que não quiseram deixar de fora um pé de dança.
O terceiro dia adivinhava-se cansativo para os detentores de passe geral. Nós comprovámos.
8 de Julho de 2011
Á chegada do terceiro dia, tudo parecia normal. A corrida clássica dos 100 metros das miúdas que se plantaram na porta do recinto desde cedo, as filas, o fazer tempo para “aquele” concerto.
 O concerto dos brasileiros Massay no palco Super Bock decorria sem problemas. A banda não continha em si o entusiasmo que tocar em Portugal – e pela primeira vez fora do Brasil – lhes causava e puxaram pelo público até ao fim. Apesar dos seus temas, tais como “Vagalume”, não terem convencido os espectadores, a cover da “Killing In The Name Of” dos Rage Against the Machine agitou as hostes e reuniu um grupo considerável de pessoas durante o tema.
O concerto dos brasileiros Massay no palco Super Bock decorria sem problemas. A banda não continha em si o entusiasmo que tocar em Portugal – e pela primeira vez fora do Brasil – lhes causava e puxaram pelo público até ao fim. Apesar dos seus temas, tais como “Vagalume”, não terem convencido os espectadores, a cover da “Killing In The Name Of” dos Rage Against the Machine agitou as hostes e reuniu um grupo considerável de pessoas durante o tema.
 A aguardar os ingleses Friendly Fires estava um recinto cada vez mais cheio. Os ingleses subiram ao palco e logo se ouviram as primeiras batidas de “Lovesick”. Os movimentos de dança de Ed Macfarlane são ainda mais espectaculares ao vivo e as músicas ganham uma força e uma riqueza de sons admiráveis. O vocalista, de energia invejável, saltou para o meio do público, e rapidamente contagiou todos os presentes com a sua dança. O repertório reuniu temas de ambos os álbuns: “Friendly Fires” de 2008 e “Pala” de 2011. “Live Those Days Tonight”, “Skeleton Boy” e “Hawaiian Air” foram os momentos favoritos, num concerto que deixou todos a querer mais. Para o fim ficaram “Paris” e “Kiss of Life”, ambas magníficas. Ed, incansável, juntou-se aos fãs por diversas vezes e, no final do concerto, ficou claro que o público português surpreendeu pela positiva. A banda agradeceu e terminava assim um dos grandes concertos do festival e um dos melhores do palco Super Bock.
A aguardar os ingleses Friendly Fires estava um recinto cada vez mais cheio. Os ingleses subiram ao palco e logo se ouviram as primeiras batidas de “Lovesick”. Os movimentos de dança de Ed Macfarlane são ainda mais espectaculares ao vivo e as músicas ganham uma força e uma riqueza de sons admiráveis. O vocalista, de energia invejável, saltou para o meio do público, e rapidamente contagiou todos os presentes com a sua dança. O repertório reuniu temas de ambos os álbuns: “Friendly Fires” de 2008 e “Pala” de 2011. “Live Those Days Tonight”, “Skeleton Boy” e “Hawaiian Air” foram os momentos favoritos, num concerto que deixou todos a querer mais. Para o fim ficaram “Paris” e “Kiss of Life”, ambas magníficas. Ed, incansável, juntou-se aos fãs por diversas vezes e, no final do concerto, ficou claro que o público português surpreendeu pela positiva. A banda agradeceu e terminava assim um dos grandes concertos do festival e um dos melhores do palco Super Bock.
 Neste palco, se alguém sabia do que se passava fora daquelas paredes, era porque alguém de fora os teria informado e o rumor se espalhou. Muitos chegaram ao fim do festival sem saber que o palco Optimus teve dificuldades técnicas durante quase todo o dia, que foram cancelados os concertos de Klepht, You and Me at Six e The Pretty Reckless. O público dos palcos era absolutamente distinto, e poucos foram os que se importaram com tais cancelamentos. Enquanto o palco dito principal resolvia os seus problemas, o resto do festival somava e seguia, levando muitos a alargar os seus horizontes, a deixarem de lado a espera pelo menino bonito e irem ver alguma música “suja”.
Neste palco, se alguém sabia do que se passava fora daquelas paredes, era porque alguém de fora os teria informado e o rumor se espalhou. Muitos chegaram ao fim do festival sem saber que o palco Optimus teve dificuldades técnicas durante quase todo o dia, que foram cancelados os concertos de Klepht, You and Me at Six e The Pretty Reckless. O público dos palcos era absolutamente distinto, e poucos foram os que se importaram com tais cancelamentos. Enquanto o palco dito principal resolvia os seus problemas, o resto do festival somava e seguia, levando muitos a alargar os seus horizontes, a deixarem de lado a espera pelo menino bonito e irem ver alguma música “suja”.
 Os irmãos Angus & Julia Stone seguiram-se e tocaram perante um mar de gente, que rapidamente se rendeu à sua música folk. Havia também muitos fãs da banda que agradeceu a presença de todos na sua estreia em território luso. Foi com “Hold On” que o concerto teve início. Julia tocou vários instrumentos e Angus encantou com a sua voz. A música ligeira agradou aos presentes, enquanto vários arranjos com lâmpadas incandescentes em palco atrás da banda contribuíram para um ambiente relaxante e íntimo. Foram temas como “Big Jet Plane” e “Just a Boy” que permitiram à banda ver o número de fãs presentes e como estes conheciam bem as suas músicas.
Os irmãos Angus & Julia Stone seguiram-se e tocaram perante um mar de gente, que rapidamente se rendeu à sua música folk. Havia também muitos fãs da banda que agradeceu a presença de todos na sua estreia em território luso. Foi com “Hold On” que o concerto teve início. Julia tocou vários instrumentos e Angus encantou com a sua voz. A música ligeira agradou aos presentes, enquanto vários arranjos com lâmpadas incandescentes em palco atrás da banda contribuíram para um ambiente relaxante e íntimo. Foram temas como “Big Jet Plane” e “Just a Boy” que permitiram à banda ver o número de fãs presentes e como estes conheciam bem as suas músicas.
 Os Fleet Foxes chegaram (finalmente) e confirmaram não ser apenas um hype do momento: ao vivo, revelam-se magníficos, conseguindo fazer com que canções já magníficas em disco cresçam e se transformem, por vezes, em momentos de apoteose ou até de catarse. Veja-se “White Winter Hymnal”, um dos exemplos mais óbvios, que ao vivo ganha ainda maior força. O som estava surpreendentemente bom, e isso ajudou a ver bem cada arranjo, cada pequeno pormenor de uma banda que faz folk-rock (ou seja lá o que for) como poucos. As vozes funcionam na perfeição, a banda tem toda aquele aspecto de gente simpática com barba que só ajuda a que tudo resulte bem (e parecem tão, tão contentes por cá terem chegado finalmente), e no final dão até uma baqueta e uma setlist a um dos membros do público. Passaram tanto pelo primeiro como pelo segundo disco, mostrando bem o quão consistentes são ambos. “Blue Ridge Mountains” foi algo que dificilmente se explica, tal como a grande “Helplessness Blues”. Em disco encantam, e ao vivo não desiludem.
Os Fleet Foxes chegaram (finalmente) e confirmaram não ser apenas um hype do momento: ao vivo, revelam-se magníficos, conseguindo fazer com que canções já magníficas em disco cresçam e se transformem, por vezes, em momentos de apoteose ou até de catarse. Veja-se “White Winter Hymnal”, um dos exemplos mais óbvios, que ao vivo ganha ainda maior força. O som estava surpreendentemente bom, e isso ajudou a ver bem cada arranjo, cada pequeno pormenor de uma banda que faz folk-rock (ou seja lá o que for) como poucos. As vozes funcionam na perfeição, a banda tem toda aquele aspecto de gente simpática com barba que só ajuda a que tudo resulte bem (e parecem tão, tão contentes por cá terem chegado finalmente), e no final dão até uma baqueta e uma setlist a um dos membros do público. Passaram tanto pelo primeiro como pelo segundo disco, mostrando bem o quão consistentes são ambos. “Blue Ridge Mountains” foi algo que dificilmente se explica, tal como a grande “Helplessness Blues”. Em disco encantam, e ao vivo não desiludem.
 E logo a seguir, chegou um dos mais fortes candidatos a melhor concerto desta edição do Alive. Nick Cave explodiu em palco com os seus Grinderman, numa onda de rock das entranhas como só ele consegue. Com já mais de cinquenta anos, Cave chegou (sem bigode), pegou na guitarra, e mostrou o porquê de ser uma autêntica lenda viva. Atirou-se várias vezes ao público, fê-lo saltar e cantar o refrão de cada música, e soltou cada palavra como se de uma bíblia do rock viessem. Com a classe de sempre, num fato que lhe assenta que nem uma luva, e com o testosterona que faz homens másculos tremer das pernas e fazer juras de amor eterno. Nick Cave é Nick Cave, foi uma honra e uma experiência por si só vê-lo em palco, e não há ninguém como ele. Quem esperava uma postura mais diva, mais fria, certamente apanhou uma grande surpresa.
E logo a seguir, chegou um dos mais fortes candidatos a melhor concerto desta edição do Alive. Nick Cave explodiu em palco com os seus Grinderman, numa onda de rock das entranhas como só ele consegue. Com já mais de cinquenta anos, Cave chegou (sem bigode), pegou na guitarra, e mostrou o porquê de ser uma autêntica lenda viva. Atirou-se várias vezes ao público, fê-lo saltar e cantar o refrão de cada música, e soltou cada palavra como se de uma bíblia do rock viessem. Com a classe de sempre, num fato que lhe assenta que nem uma luva, e com o testosterona que faz homens másculos tremer das pernas e fazer juras de amor eterno. Nick Cave é Nick Cave, foi uma honra e uma experiência por si só vê-lo em palco, e não há ninguém como ele. Quem esperava uma postura mais diva, mais fria, certamente apanhou uma grande surpresa.  Cave não pára, vai ao público e canta para ele, e em palco vocifera sempre com os olhos no público, exigindo dele aquilo que dá em palco. E consegue-o. A banda é toda ela espectacular, com destaque, claro, para Warren Ellis, que uiva, atira-se ao chão (quando não o próprio Cave a fazê-lo), e esperneia com uma energia rara (quem diria que é este o homem que faz ocasionalmente arranjos para a PJ Harvey?). Canções como “Heathen Child” ao vivo transformam-se em chapadas de energia, e o final com “Love Bomb”, já em encore, ficará sem dúvida na memória dos presentes por muito, muito tempo. Criminoso, que este tenha sido o seu primeiro concerto por cá.
Cave não pára, vai ao público e canta para ele, e em palco vocifera sempre com os olhos no público, exigindo dele aquilo que dá em palco. E consegue-o. A banda é toda ela espectacular, com destaque, claro, para Warren Ellis, que uiva, atira-se ao chão (quando não o próprio Cave a fazê-lo), e esperneia com uma energia rara (quem diria que é este o homem que faz ocasionalmente arranjos para a PJ Harvey?). Canções como “Heathen Child” ao vivo transformam-se em chapadas de energia, e o final com “Love Bomb”, já em encore, ficará sem dúvida na memória dos presentes por muito, muito tempo. Criminoso, que este tenha sido o seu primeiro concerto por cá.
 No palco Clubbing, passava-se então Atari Teenage Riot. Hoje, o palco “do meio” tinha mais uma editora forte, Dim Mak de Steve Aoki que entrou em palco ainda antes da sua actuação, para rebentar com os seus enteados. Foi talvez o momento mais difícil do dia, tentar dividir atenção entre os dois palcos onde actuavam duas bandas de excelências, energéticas de modo distinto e que certamente fizeram com que muitos não ligassem aos problemas do palco principal.
No palco Clubbing, passava-se então Atari Teenage Riot. Hoje, o palco “do meio” tinha mais uma editora forte, Dim Mak de Steve Aoki que entrou em palco ainda antes da sua actuação, para rebentar com os seus enteados. Foi talvez o momento mais difícil do dia, tentar dividir atenção entre os dois palcos onde actuavam duas bandas de excelências, energéticas de modo distinto e que certamente fizeram com que muitos não ligassem aos problemas do palco principal.
Os Thievery Corporation deram um concerto que fez falta ao Alive. Calmo, relaxante, com aquela mistura toda entre dub, bossa nova e sabe-se lá mais o quê, e uma banda mais que competente. A troca de vocalistas resulta sempre bem, e vê-se uma tenda bem composta, constituída por uma massa que dança de forma uniforme. Lá fora, os 30 Seconds to Mars tinham finalmente começado a tocar. Mas ali, naquele palco, ninguém sabia de nada, e vivia-se uma festa enquanto no outro lado do recinto se tinham vivido lágrimas (e alguns desmaios, parece). Um concerto de cerca de uma hora onde se dançou do início ao fim, sem falhas, quase em transe. Depois do folk dos Fleet Foxes, e da energia do rock puro de Nick Cave, fez falta este momento de relaxamento.
 Ao fim de horas de espera e muita lágrima corrida pelas caras dos fãs devotos, foi anunciado que a banda de Jared Leto ainda tocaria. Os Thievery Corporation tiveram aí algum abandono, pelo público da periferia que se apercebia do início do concerto no palco grande. Hora e meia depois do horário previsto, os 30 Seconds to Mars entraram em palco, perante um recinto a abarrotar. O concerto foi curto, mas serviu para satisfazer os fãs que aguardavam desde o início da tarde (alguns desde o início da manhã, nas grades do recinto do festival).
Ao fim de horas de espera e muita lágrima corrida pelas caras dos fãs devotos, foi anunciado que a banda de Jared Leto ainda tocaria. Os Thievery Corporation tiveram aí algum abandono, pelo público da periferia que se apercebia do início do concerto no palco grande. Hora e meia depois do horário previsto, os 30 Seconds to Mars entraram em palco, perante um recinto a abarrotar. O concerto foi curto, mas serviu para satisfazer os fãs que aguardavam desde o início da tarde (alguns desde o início da manhã, nas grades do recinto do festival).
 Enquanto “Kings and Queens” decorria, mais e mais gente se juntava para ver a banda norte-americana. Jared Leto, como sempre, desfez-se em elogios ao país e aos fãs portugueses, para delírio da multidão. Com gritos repetidos de ordem para que todos saltassem, o cantor fez questão de anunciar que a banda estava ali para proporcionar um bom bocado a todos os que os tinham ido ver, apesar de todos os “acidentes” com o palco Optimus. “This is War”, “Hurricane” e “The Kill” foram alguns dos pontos altos do concerto, que não deixou de saber a algo muito apressado. Para o fim ficou “Closer to the Edge”, que contou com a presença de três fãs do sexo masculino que tiveram direito a uma foto com o vocalista e o recinto como pano de fundo.
Enquanto “Kings and Queens” decorria, mais e mais gente se juntava para ver a banda norte-americana. Jared Leto, como sempre, desfez-se em elogios ao país e aos fãs portugueses, para delírio da multidão. Com gritos repetidos de ordem para que todos saltassem, o cantor fez questão de anunciar que a banda estava ali para proporcionar um bom bocado a todos os que os tinham ido ver, apesar de todos os “acidentes” com o palco Optimus. “This is War”, “Hurricane” e “The Kill” foram alguns dos pontos altos do concerto, que não deixou de saber a algo muito apressado. Para o fim ficou “Closer to the Edge”, que contou com a presença de três fãs do sexo masculino que tiveram direito a uma foto com o vocalista e o recinto como pano de fundo.
Para receber o músico portuense Slimmy, não havia muita gente, mas isso rapidamente foi mudando. Com o mais recente álbum “Be Someone Else” na mala, a banda tocou também temas do antecessor “Beatsound Loverboy”, tais como “You Should Never Leave Me (Before I Die)”, “Show Girl” e ainda “Set Me on Fire”, durante a qual o músico foi até às grades da plateia. “Beatsound Loverboy” também fez parte do repertório que garantiu festa e dança até a actuação de Digitalism.
 Pouco depois, voltava-se à festa no palco Optimus, com os The Chemical Brothers a dar um concerto que foi, em todos os aspectos, um verdadeiro espectáculo. Visualmente bem pensado e executado, com um ecrã gigante a cobrir o fundo, e um apurado jogo de luzes, a dupla transformou o
Pouco depois, voltava-se à festa no palco Optimus, com os The Chemical Brothers a dar um concerto que foi, em todos os aspectos, um verdadeiro espectáculo. Visualmente bem pensado e executado, com um ecrã gigante a cobrir o fundo, e um apurado jogo de luzes, a dupla transformou o  Alive numa gigantesca discoteca ao ar livre, um espectáculo tanto sonoro como visual, onde êxitos como Hey Boy, Hey Girl puseram todo o público (surpreendentemente numeroso, mesmo depois de todos os adiamentos e do concerto da banda de Jared Leto) a dançar. Um concerto exemplar que os confirma como um dos maiores dentro do género (Duck Sauce, vejam e aprendam), a todos os níveis. Se a nível técnico conseguem impressionar, a nível de espectáculo também o conseguem. Uma rave de pura celebração.
Alive numa gigantesca discoteca ao ar livre, um espectáculo tanto sonoro como visual, onde êxitos como Hey Boy, Hey Girl puseram todo o público (surpreendentemente numeroso, mesmo depois de todos os adiamentos e do concerto da banda de Jared Leto) a dançar. Um concerto exemplar que os confirma como um dos maiores dentro do género (Duck Sauce, vejam e aprendam), a todos os níveis. Se a nível técnico conseguem impressionar, a nível de espectáculo também o conseguem. Uma rave de pura celebração.
E, para terminar, mais electrónica. Três da manhã, muito cansaço. “Irra, as vossas caras, já todas cansadas”, comenta um fotógrafo, quando nos vê na grade pouco antes do início de Digitalism. Alguns coxeiam, outros queixam-se do frio, e mesmo assim é uma tenda muito bem composta que está ali para os receber. E foi, claro, mais uma festa. Canções como a obrigatória “Pogo” ou “2 Hearts” fazem saltar e dançar um público que, mesmo mostrando sinais evidentes de cansaço, está ali para a festa. Ao vivo, é de salientar o baterista, que ajuda a dar a cada canção uma cobertura mais forte. O vocalista, loiro e franzino, canta frequentemente perto do público, e a banda mostra toda ela uma energia que acaba por passar para um público que por esta altura já tem cinco ou seis concertos em cima. Um belo final para o dia, dado por uma das mais conceituadas do género actualmente.
9 de Julho de 2011
 A abrir o palco Super Bock no último dia do festival estiveram os brasileiros Stereopack. Tal como os Massay, aos quais enviaram um grande abraço, também eles estavam muito entusiasmados por tocar pela primeira vez ao vivo fora do Brasil. O público não era muito mas isso não invalidou que a banda se divertisse. O vocalista Antonio Avelar revelou que o primeiro single da banda, “I Don't Wanna Say Goodbye Anymore” foi filmado em Lisboa, que lhes valeu uma valente salva de palmas por parte dos presentes.
A abrir o palco Super Bock no último dia do festival estiveram os brasileiros Stereopack. Tal como os Massay, aos quais enviaram um grande abraço, também eles estavam muito entusiasmados por tocar pela primeira vez ao vivo fora do Brasil. O público não era muito mas isso não invalidou que a banda se divertisse. O vocalista Antonio Avelar revelou que o primeiro single da banda, “I Don't Wanna Say Goodbye Anymore” foi filmado em Lisboa, que lhes valeu uma valente salva de palmas por parte dos presentes.
 Foi-se reunindo mais gente para receber os britânicos WU LYF, cujo vocalista trazia ao pescoço, como lenço, uma pequena bandeira de Portugal. Conhecidos por criarem muito mistério à sua volta e não revelarem muita informação à imprensa, os WU LYF deram a conhecer a sua música aos espectadores curiosos que se iam juntando. A banda mostrou-se bem-disposta e brincalhona, bem como à vontade em palco. Temas como “Heavy Pop” e “Dirt” intrigaram mais do que fascinaram a maior parte dos presentes. Ainda assim, uma boa surpresa para esta edição do palco Super Bock.
Foi-se reunindo mais gente para receber os britânicos WU LYF, cujo vocalista trazia ao pescoço, como lenço, uma pequena bandeira de Portugal. Conhecidos por criarem muito mistério à sua volta e não revelarem muita informação à imprensa, os WU LYF deram a conhecer a sua música aos espectadores curiosos que se iam juntando. A banda mostrou-se bem-disposta e brincalhona, bem como à vontade em palco. Temas como “Heavy Pop” e “Dirt” intrigaram mais do que fascinaram a maior parte dos presentes. Ainda assim, uma boa surpresa para esta edição do palco Super Bock.
 Para dar início aos concertos no palco Optimus, foram chamados os vencedores do Optimus Live Act, Lululemon. Oriundos de Vale de Cambra, debitaram temas estritamente instrumentais que agradaram ao público e mostraram que continua a ser feita boa música em solo nacional e que se deve apostar nestas novas bandas. Passaram tanto pelo primeiro EP - Thee Ol’ Reliables como por temas novos que contam com a presença de um membro extra ao – agora-ex-duo. Luís junta-se à guitarra de Pedro Ledo e à bateria de Tiago Sales para um longa duração a sair no final do mês. As fãs femininas pareciam agradadas com os nortenhos e valeu-lhes uma boa recepção.
Para dar início aos concertos no palco Optimus, foram chamados os vencedores do Optimus Live Act, Lululemon. Oriundos de Vale de Cambra, debitaram temas estritamente instrumentais que agradaram ao público e mostraram que continua a ser feita boa música em solo nacional e que se deve apostar nestas novas bandas. Passaram tanto pelo primeiro EP - Thee Ol’ Reliables como por temas novos que contam com a presença de um membro extra ao – agora-ex-duo. Luís junta-se à guitarra de Pedro Ledo e à bateria de Tiago Sales para um longa duração a sair no final do mês. As fãs femininas pareciam agradadas com os nortenhos e valeu-lhes uma boa recepção.
 Os Linda Martini vão estar este ano nuns quantos festivais, e o Alive teve a sorte de ser um deles. Num bom concerto, como dão sempre, faltou um alinhamento mais bem pensado (onde esteve a Dá-me a Tua Melhor Faca?), um som melhor (o baixo em O Amor é Não Haver Polícia mal se ouvia… um crime), e um público que… bem, se mexesse. Faltou empenho da plateia, que tem, como bem disse Hélio, responsabilidade no concerto. Canções como Juventude Sónica pedem que se salte, que se grite, e infelizmente o público, que encheu a tenda e parecia ser conhecedor, não fez nem uma coisa nem outra. Fica a competência do costume, minada pelo local e por quem nele estava.
Os Linda Martini vão estar este ano nuns quantos festivais, e o Alive teve a sorte de ser um deles. Num bom concerto, como dão sempre, faltou um alinhamento mais bem pensado (onde esteve a Dá-me a Tua Melhor Faca?), um som melhor (o baixo em O Amor é Não Haver Polícia mal se ouvia… um crime), e um público que… bem, se mexesse. Faltou empenho da plateia, que tem, como bem disse Hélio, responsabilidade no concerto. Canções como Juventude Sónica pedem que se salte, que se grite, e infelizmente o público, que encheu a tenda e parecia ser conhecedor, não fez nem uma coisa nem outra. Fica a competência do costume, minada pelo local e por quem nele estava.
 Quase um ano depois da estreia dos londrinos White Lies por terras lusas, a banda regressou, desta feita já com um novo álbum na bagagem. “Ritual” sucedeu a “To Lose My Life” e conta com vários temas já conhecidos do público. Os fãs eram mais e a banda revelou mais maturidade em palco. O vocalista Harry McVeigh cumprimentou os espectadores com um efusivo “Hello” e rapidamente se começou a ouvir “Fairwell to the Fairground”.
Quase um ano depois da estreia dos londrinos White Lies por terras lusas, a banda regressou, desta feita já com um novo álbum na bagagem. “Ritual” sucedeu a “To Lose My Life” e conta com vários temas já conhecidos do público. Os fãs eram mais e a banda revelou mais maturidade em palco. O vocalista Harry McVeigh cumprimentou os espectadores com um efusivo “Hello” e rapidamente se começou a ouvir “Fairwell to the Fairground”.  As pessoas iam juntando-se e os fãs cantavam com a banda, de braços no ar. O vocalista puxou pelo público inúmeras vezes, enquanto apresentava as músicas novas, como foi o caso de “Strangers”, um dos singles do último álbum. “Price of Love” foi dedicada aos fãs portugueses, que aplaudiram e entoaram a letra em conjunto com a banda. O concerto perdeu força a meio, mas “Death” conseguiu retomar a energia, como sempre acontece nos concertos dos White Lies. Para o fim ficou a conhecida “Unfinished Business” e o single “Bigger Than Us”.
As pessoas iam juntando-se e os fãs cantavam com a banda, de braços no ar. O vocalista puxou pelo público inúmeras vezes, enquanto apresentava as músicas novas, como foi o caso de “Strangers”, um dos singles do último álbum. “Price of Love” foi dedicada aos fãs portugueses, que aplaudiram e entoaram a letra em conjunto com a banda. O concerto perdeu força a meio, mas “Death” conseguiu retomar a energia, como sempre acontece nos concertos dos White Lies. Para o fim ficou a conhecida “Unfinished Business” e o single “Bigger Than Us”.
 A estreia dos britânicos Foals em Portugal ficou reservada para o último dia do festival. Criadores de “Antidotes”, um álbum original que chamou à atenção desde o início, produziram também “Total Life Forever”, que se revelou mais como uma surpresa pelo distanciamento do som que lhes tinha garantido um lugar na ribalta. O concerto no Optimus Alive! também seguiu esse caminho. “Blue Blood” foi a primeira, tocada para um recinto cheio e curioso. Não convenceu, mas rapidamente os ânimos mudaram aquando da chegada de “Cassius", retirada do primeiro álbum. Desse álbum, ouviram-se ainda “Red Socks Pugie” e “Electric Bloom”, que encerraram o espectáculo. Tocaram ainda “Spanish Sahara”, primeiro single do último álbum, e outras como “After Glow”.
A estreia dos britânicos Foals em Portugal ficou reservada para o último dia do festival. Criadores de “Antidotes”, um álbum original que chamou à atenção desde o início, produziram também “Total Life Forever”, que se revelou mais como uma surpresa pelo distanciamento do som que lhes tinha garantido um lugar na ribalta. O concerto no Optimus Alive! também seguiu esse caminho. “Blue Blood” foi a primeira, tocada para um recinto cheio e curioso. Não convenceu, mas rapidamente os ânimos mudaram aquando da chegada de “Cassius", retirada do primeiro álbum. Desse álbum, ouviram-se ainda “Red Socks Pugie” e “Electric Bloom”, que encerraram o espectáculo. Tocaram ainda “Spanish Sahara”, primeiro single do último álbum, e outras como “After Glow”.
 Os Kaiser Chiefs, depois de uma pausa e de um disco anterior que foi um fracasso, voltaram ao activo e estão, felizmente, ainda em boa forma. Num concerto energético, onde dificilmente se esteve parado, Ricky Wilson saltou, correu, gritou, e fez tudo aquilo a que estamos habituados, perante um público que parecia conhecedor os hinos da banda e que respondeu como se esperava: saltou e gritou de volta. É, acima de tudo, de elogiar o alinhamento bem pensado: singles novos intercalados na perfeição com antigos. As mais conhecidas estiveram lá todas (Ruby, I Predict a Riot), mas houve também tempo para mostrar algumas das novas canções (Little Shocks resulta muito melhor ao vivo). Dificilmente teria havido outra banda melhor para aquecer desta forma o público. São, efectivamente, uma daquelas bandas que, em festivais, fazem todo o sentido. E é bom ver que continuam na boa forma de sempre.
Os Kaiser Chiefs, depois de uma pausa e de um disco anterior que foi um fracasso, voltaram ao activo e estão, felizmente, ainda em boa forma. Num concerto energético, onde dificilmente se esteve parado, Ricky Wilson saltou, correu, gritou, e fez tudo aquilo a que estamos habituados, perante um público que parecia conhecedor os hinos da banda e que respondeu como se esperava: saltou e gritou de volta. É, acima de tudo, de elogiar o alinhamento bem pensado: singles novos intercalados na perfeição com antigos. As mais conhecidas estiveram lá todas (Ruby, I Predict a Riot), mas houve também tempo para mostrar algumas das novas canções (Little Shocks resulta muito melhor ao vivo). Dificilmente teria havido outra banda melhor para aquecer desta forma o público. São, efectivamente, uma daquelas bandas que, em festivais, fazem todo o sentido. E é bom ver que continuam na boa forma de sempre.
 Os TV on the Radio são uma das melhores bandas da actualidade. Não há volta a dar. Num concerto incrível, como já tinha sido o que deram há dois anos atrás no mesmo palco neste mesmo festival, a banda americana voltou a trazer ao palco descargas de energia em forma de um rock com inspirações no soul e sabe-se lá que mais, entregues por uma banda única, com um carisma muito próprio (o facto de terem um ar meio marrão meio geek só ajuda à festa). Tunde Adebimpe é imparável, vagueando pelo palco de microfone na mão enquanto faz com os braços aqueles gestos que só ele sabe, e Kyp Malone é a presença de sempre, com aquela belíssima voz, aquela barba e aqueles olhos que se reviram enquanto canta.
Os TV on the Radio são uma das melhores bandas da actualidade. Não há volta a dar. Num concerto incrível, como já tinha sido o que deram há dois anos atrás no mesmo palco neste mesmo festival, a banda americana voltou a trazer ao palco descargas de energia em forma de um rock com inspirações no soul e sabe-se lá que mais, entregues por uma banda única, com um carisma muito próprio (o facto de terem um ar meio marrão meio geek só ajuda à festa). Tunde Adebimpe é imparável, vagueando pelo palco de microfone na mão enquanto faz com os braços aqueles gestos que só ele sabe, e Kyp Malone é a presença de sempre, com aquela belíssima voz, aquela barba e aqueles olhos que se reviram enquanto canta.  A tragédia atingiu-os quando o seu excelente baixista, Gerard Smith, faleceu de cancro há alguns meses, e isso tornou ainda mais especial vê-los assim em palco, cada vez melhores naquilo que fazem. Arranjaram um baterista novo, ficando o antigo encarregue do baixo e teclas, e tudo resulta melhor que nunca. Se há dois anos foram espantosos, este ano foram-nos ainda mais… e com um álbum menor. A melhoria é simples: estão ainda melhores ao vivo. As canções que em disco soam inferiores ao vivo surpreendem, crescem, e ficam lado a lado com as grandes que antes tinham feito. E o alinhamento parece, por si só, pensado ao pormenor. Começar com Halfway Home, a melhor faixa de Dear Science e que nem tinham tocado há dois anos atrás? De génio.
A tragédia atingiu-os quando o seu excelente baixista, Gerard Smith, faleceu de cancro há alguns meses, e isso tornou ainda mais especial vê-los assim em palco, cada vez melhores naquilo que fazem. Arranjaram um baterista novo, ficando o antigo encarregue do baixo e teclas, e tudo resulta melhor que nunca. Se há dois anos foram espantosos, este ano foram-nos ainda mais… e com um álbum menor. A melhoria é simples: estão ainda melhores ao vivo. As canções que em disco soam inferiores ao vivo surpreendem, crescem, e ficam lado a lado com as grandes que antes tinham feito. E o alinhamento parece, por si só, pensado ao pormenor. Começar com Halfway Home, a melhor faixa de Dear Science e que nem tinham tocado há dois anos atrás? De génio.  E tocar logo de seguida Dancing Choose, com Adebimpe a gritar pelo palco e o público a bater palmas naquele segundos que o pedem ao longo da música? De génio, mais uma vez. Sem falhas, iguais a si mesmos, os TV on the Radio deram aquele que para muitos terá sido, e com razão, o melhor concerto de todo o festival (e, diga-se, um dos melhores do ano até agora). As últimas três canções foram absolutamente incríveis, de ficar com o queixo no chão: Staring at the Sun (ainda mais transformada ao vivo nesta digressão, ainda mais apoteótica), Repetition (surpreendente) e, claro, a obrigatória e incrível (sei que já usei muito esta palavra, mas eles bem o merecem) Wolf Like Me, que deu ao concerto um final absolutamente memorável, com o público a cantar a altos berros enquanto saltava, acção partilhada por Malone, que saltava de guitarra em riste perto do microfone.
E tocar logo de seguida Dancing Choose, com Adebimpe a gritar pelo palco e o público a bater palmas naquele segundos que o pedem ao longo da música? De génio, mais uma vez. Sem falhas, iguais a si mesmos, os TV on the Radio deram aquele que para muitos terá sido, e com razão, o melhor concerto de todo o festival (e, diga-se, um dos melhores do ano até agora). As últimas três canções foram absolutamente incríveis, de ficar com o queixo no chão: Staring at the Sun (ainda mais transformada ao vivo nesta digressão, ainda mais apoteótica), Repetition (surpreendente) e, claro, a obrigatória e incrível (sei que já usei muito esta palavra, mas eles bem o merecem) Wolf Like Me, que deu ao concerto um final absolutamente memorável, com o público a cantar a altos berros enquanto saltava, acção partilhada por Malone, que saltava de guitarra em riste perto do microfone.  Das melhores canções de sempre ao vivo, tal como Staring at the Sun? É possível. Quem não os conhecia (ao início do concerto a tenda estava apenas bem composta, mas a meio já estava cheia) terá saído de boca aberta; quem já os conhecia, terá saído com lágrimas nos olhos e um sorriso do tamanho do mundo, ainda com uma certeza maior daquilo que se assume como um puro facto: não há ninguém como eles e, actualmente, são dos melhores. E aquele sorriso de Adebimpe, enquanto saía do palco, vale por mil palavras. Agora, pelo amor de Deus, alguém que os traga cá a solo! E foram, felizmente, talvez a banda que teve o melhor som naquele palco.
Das melhores canções de sempre ao vivo, tal como Staring at the Sun? É possível. Quem não os conhecia (ao início do concerto a tenda estava apenas bem composta, mas a meio já estava cheia) terá saído de boca aberta; quem já os conhecia, terá saído com lágrimas nos olhos e um sorriso do tamanho do mundo, ainda com uma certeza maior daquilo que se assume como um puro facto: não há ninguém como eles e, actualmente, são dos melhores. E aquele sorriso de Adebimpe, enquanto saía do palco, vale por mil palavras. Agora, pelo amor de Deus, alguém que os traga cá a solo! E foram, felizmente, talvez a banda que teve o melhor som naquele palco.
 Outra estreia em solo nacional, os norte-americanos Paramore traziam na bagagem seis anos de vida quando por fim aterraram em Lisboa. Os fãs eram inúmeros e conheciam bem o trabalho da banda. Hayley Williams entrou em palco sem saber bem o que a esperava mas rapidamente percebeu: um mar de fãs devotos e entusiastas. Foi com “Ignorance” que a banda abriu, seguida de temas que fizeram as delícias dos presentes, tais como “That’s What You Get” ou “Crushcrushcrush”.
Outra estreia em solo nacional, os norte-americanos Paramore traziam na bagagem seis anos de vida quando por fim aterraram em Lisboa. Os fãs eram inúmeros e conheciam bem o trabalho da banda. Hayley Williams entrou em palco sem saber bem o que a esperava mas rapidamente percebeu: um mar de fãs devotos e entusiastas. Foi com “Ignorance” que a banda abriu, seguida de temas que fizeram as delícias dos presentes, tais como “That’s What You Get” ou “Crushcrushcrush”.  Hayley partilhava lições de canto com os fãs e em troca pedia lições de dança. Puxou pelo público, mas nem era preciso muito. A energia e alegria por finalmente verem os Paramore ao vivo sentiam-se por todo o recinto recheado de fãs. Viam-se bandeiras de vários países, como Brasil e Espanha, por entre o público. “Monster”, o mais recente single, que faz parte da banda sonora do filme “Transformers 3”, já estava bem decorado por todos, tal como o single “The Only Exception”. Para o fim, ficou reservada uma surpresa: uma fã foi convidada a subir ao palco, onde lhe emprestaram uma guitarra para que se divertisse com a banda. “Misery Business” entrou em cena enquanto os Paramore saíram de cena sob uma chuva de confetti de todas as cores que o cabelo de Hayley já teve.
Hayley partilhava lições de canto com os fãs e em troca pedia lições de dança. Puxou pelo público, mas nem era preciso muito. A energia e alegria por finalmente verem os Paramore ao vivo sentiam-se por todo o recinto recheado de fãs. Viam-se bandeiras de vários países, como Brasil e Espanha, por entre o público. “Monster”, o mais recente single, que faz parte da banda sonora do filme “Transformers 3”, já estava bem decorado por todos, tal como o single “The Only Exception”. Para o fim, ficou reservada uma surpresa: uma fã foi convidada a subir ao palco, onde lhe emprestaram uma guitarra para que se divertisse com a banda. “Misery Business” entrou em cena enquanto os Paramore saíram de cena sob uma chuva de confetti de todas as cores que o cabelo de Hayley já teve.
Com o cancelamento dos Dizzee Rascal, por problemas no voo do vocalista, foram substituídos pelos portugueses Diabo na Cruz, contratação de última hora, mas bem recebida pelo público do palco Super Bock.
 Os Jane’s Addiction são uma banda como já não se faz. Intemporais, iguais a mais ninguém, deram um concerto histórico e inesquecível, de uma potência impressionante com canções que, provavelmente, marcaram as vidas de alguns dos presentes. Perry Farrell está incrível (igual a si mesmo, portanto), com o carisma, a presença, o estilo e a voz (a voz! Meu Deus, parece que não envelheceu!) de sempre, e
Os Jane’s Addiction são uma banda como já não se faz. Intemporais, iguais a mais ninguém, deram um concerto histórico e inesquecível, de uma potência impressionante com canções que, provavelmente, marcaram as vidas de alguns dos presentes. Perry Farrell está incrível (igual a si mesmo, portanto), com o carisma, a presença, o estilo e a voz (a voz! Meu Deus, parece que não envelheceu!) de sempre, e  Dave Navarro é mesmo aquilo que muitos dizem por aí: um grande guitarrista. Num alinhamento curto de apenas doze canções, e em pouco mais de uma hora de concerto, desfilaram clássicos como a grande Just Because (cantada e altos berros) e a tão conhecida Been Caught Stealing. Hinos intemporais, que soam hoje em dia tão únicos quanto há tantos anos atrás, sinal apenas da genialidade da banda que, em palco, se mostrou em excelente forma. Perry está igual a si mesmo: salta, anda pelo palco sempre próximo do público, pisca o olho a rapazes e a raparigas, e tem na face sempre o sorriso de quem adora o que faz. Bastou aquele magnífico início com Mountain Song para saber o que esperar: um grande concerto.
Dave Navarro é mesmo aquilo que muitos dizem por aí: um grande guitarrista. Num alinhamento curto de apenas doze canções, e em pouco mais de uma hora de concerto, desfilaram clássicos como a grande Just Because (cantada e altos berros) e a tão conhecida Been Caught Stealing. Hinos intemporais, que soam hoje em dia tão únicos quanto há tantos anos atrás, sinal apenas da genialidade da banda que, em palco, se mostrou em excelente forma. Perry está igual a si mesmo: salta, anda pelo palco sempre próximo do público, pisca o olho a rapazes e a raparigas, e tem na face sempre o sorriso de quem adora o que faz. Bastou aquele magnífico início com Mountain Song para saber o que esperar: um grande concerto.  Possivelmente o melhor que passou pelo palco Optimus em todo o festival, e (repito o que disse em TV on the Radio), talvez um dos melhores do ano. Sem falhas, com o estilo que só eles têm (Dave Navarro e aquele seu chapéu…), foi provavelmente o concerto da vida de muito boa gente, naquela que foi a estreia da banda em solos lusitanos (chocante, dada a carreira do grupo). Impressionaram, nunca desiludiram, e deram um concerto memorável e do qual foi difícil sair (apesar de o encore, com Jane Says, ter sido um momento de perfeição absoluta). E Perry Blake é, simplesmente, um frontman como já não se fazem. Aliás, já não se fazem bandas assim, ponto. Velhos, como se costuma dizer, são os trapos. Histórico, simplesmente.
Possivelmente o melhor que passou pelo palco Optimus em todo o festival, e (repito o que disse em TV on the Radio), talvez um dos melhores do ano. Sem falhas, com o estilo que só eles têm (Dave Navarro e aquele seu chapéu…), foi provavelmente o concerto da vida de muito boa gente, naquela que foi a estreia da banda em solos lusitanos (chocante, dada a carreira do grupo). Impressionaram, nunca desiludiram, e deram um concerto memorável e do qual foi difícil sair (apesar de o encore, com Jane Says, ter sido um momento de perfeição absoluta). E Perry Blake é, simplesmente, um frontman como já não se fazem. Aliás, já não se fazem bandas assim, ponto. Velhos, como se costuma dizer, são os trapos. Histórico, simplesmente.
 Para terminar, os Duck Sauce. Pato gigante insuflável em palco, e um concerto irritante, repetitivo e que nem muita vontade de bater o pé deu. Ao que parece, só têm mesmo Barbra Streisand como canção que mereça ser ouvida ao vivo. O potencial parecia estar lá, mas afinal… não. Um final infeliz para o palco principal, numa aposta que parecia ganha mas que, afinal, esteve longe de o estar.
Para terminar, os Duck Sauce. Pato gigante insuflável em palco, e um concerto irritante, repetitivo e que nem muita vontade de bater o pé deu. Ao que parece, só têm mesmo Barbra Streisand como canção que mereça ser ouvida ao vivo. O potencial parecia estar lá, mas afinal… não. Um final infeliz para o palco principal, numa aposta que parecia ganha mas que, afinal, esteve longe de o estar.
 A encerrar o festival, até para o ano, as opções variavam entre esteve Fake Blood, supostamente em formato live que não o foi e A-Trak, ou o palco Clubbing, desta feita representado pela Boys Noize Records, onde ao longo de todo o dia o próprio, Gold Panda ou Spank Rock davam corda aos sapatos. Saltos e dança um pouco por todo o recinto, encerrou a edição deste ano daquele que é talvez o festival mas reconhecido de Portugal.
A encerrar o festival, até para o ano, as opções variavam entre esteve Fake Blood, supostamente em formato live que não o foi e A-Trak, ou o palco Clubbing, desta feita representado pela Boys Noize Records, onde ao longo de todo o dia o próprio, Gold Panda ou Spank Rock davam corda aos sapatos. Saltos e dança um pouco por todo o recinto, encerrou a edição deste ano daquele que é talvez o festival mas reconhecido de Portugal.
O balanço geral foi positivo, tendo em conta a crise, os números foram animadores para a organização. O recinto aguentou – apesar dos percalços do terceiro dia – milhares de pés e promete prolongar-se durante os próximos 5 anos, no Passeio Marítimo de Algés.
O próximo ano conta novamente com três dias de festival – de 12 a 14 de Julho.
Reportagem Festival Marés Vivas 2011
- Festivais
- Festivais
- Acessos: 4647
 A abrir o Festival Marés Vivas, presentes no palco MocheTMN, "Pitt Broken" e mais os 5 elementos da sua banda aqueceram o público com “Marés Vivas, Will You Be There for a Change?”. No seu estilo pop-rock, a banda apelou à paz e deu as boas-vindas aos festivaleiros com a versão “Bad Romance” e “Perfect Mirror”, que o público recebeu calorosamente.
A abrir o Festival Marés Vivas, presentes no palco MocheTMN, "Pitt Broken" e mais os 5 elementos da sua banda aqueceram o público com “Marés Vivas, Will You Be There for a Change?”. No seu estilo pop-rock, a banda apelou à paz e deu as boas-vindas aos festivaleiros com a versão “Bad Romance” e “Perfect Mirror”, que o público recebeu calorosamente.
 O concerto seguinte no palco secundário começa com o tema “Lusíadas”, a banda de Coimbra liderada por José Rebola - Anaquim, provou mais uma vez a qualidade da música nacional. O público, com meia lotação, dançou e cantou os temas habituais, como “Na minha Rua” e “Tom Sawyer”. Na música “O Meu Coração”, originalmente em Dueto com Ana Bacalhau dos Deolinda, o vocalista interpretou a voz da cantora, provocando uma onda de aplausos e assobios na plateia. Em interacção constante com o público, a banda toca “As Vidas dos Outros” encerrando em beleza o concerto que já contava com mais de uma hora de duração.
O concerto seguinte no palco secundário começa com o tema “Lusíadas”, a banda de Coimbra liderada por José Rebola - Anaquim, provou mais uma vez a qualidade da música nacional. O público, com meia lotação, dançou e cantou os temas habituais, como “Na minha Rua” e “Tom Sawyer”. Na música “O Meu Coração”, originalmente em Dueto com Ana Bacalhau dos Deolinda, o vocalista interpretou a voz da cantora, provocando uma onda de aplausos e assobios na plateia. Em interacção constante com o público, a banda toca “As Vidas dos Outros” encerrando em beleza o concerto que já contava com mais de uma hora de duração.
 Os brasileiros Natiruts abriram as honras do palco principal ao anoitecer do primeiro dia do festival. A sua música tranquila e cheia de boas vibrações abraçou os fãs que aguardavam ansiosamente pelos êxitos da banda, desde a abertura do recinto.
Os brasileiros Natiruts abriram as honras do palco principal ao anoitecer do primeiro dia do festival. A sua música tranquila e cheia de boas vibrações abraçou os fãs que aguardavam ansiosamente pelos êxitos da banda, desde a abertura do recinto.  Misturando os temas clássicos com os mais recentes temas do álbum “Raçaman”, as mensagens de agradecimento à organização não ficaram esquecidas. A banda sublinhou ainda que “a cultura é investimento para o desenvolvimento” em tempos de crise. Relembrando a primeira actuação em Portugal, em 2005, a banda presenteou o público com o tema bem conhecido “Presente de um Beija-Flor”, que todos acompanharam cantando e balançando os braços bem no alto. Este concerto, com sabor a Verão, encerrou com o tema “Liberdade para Dentro da Cabeça”, para rejúbilo do público.
Misturando os temas clássicos com os mais recentes temas do álbum “Raçaman”, as mensagens de agradecimento à organização não ficaram esquecidas. A banda sublinhou ainda que “a cultura é investimento para o desenvolvimento” em tempos de crise. Relembrando a primeira actuação em Portugal, em 2005, a banda presenteou o público com o tema bem conhecido “Presente de um Beija-Flor”, que todos acompanharam cantando e balançando os braços bem no alto. Este concerto, com sabor a Verão, encerrou com o tema “Liberdade para Dentro da Cabeça”, para rejúbilo do público.
 Os senhores do Rock & Roll Português, Xutos & Pontapés, subiram ao palco do festival Marés Vivas com a mesma força e vitalidade que sempre os caracterizou. Marcado pelo regresso de Zé Pedro, afastado dos palcos por motivos de saúde, o concerto contou com os clássicos “À Minha Maneira”, “Não Sou o Único”, “Homem do Leme”, “Maria”, “Chuva Dissolvente”, “Circo de Feras” e “Contentores”.
Os senhores do Rock & Roll Português, Xutos & Pontapés, subiram ao palco do festival Marés Vivas com a mesma força e vitalidade que sempre os caracterizou. Marcado pelo regresso de Zé Pedro, afastado dos palcos por motivos de saúde, o concerto contou com os clássicos “À Minha Maneira”, “Não Sou o Único”, “Homem do Leme”, “Maria”, “Chuva Dissolvente”, “Circo de Feras” e “Contentores”.  Entre os temas "Superjacto" e "Perfeito vazio", ambos do último disco, Zé Pedro aproveita para agradecer o apoio dos fãs, confessando que é no palco que se sente bem. Durante mais de uma hora e meia de concerto, pessoas de todas as idades cantaram com a banda os temas já conhecidos, frutos dos 30 anos de carreira da banda. Para terminar em beleza, o esperado tema “Casinha”.
Entre os temas "Superjacto" e "Perfeito vazio", ambos do último disco, Zé Pedro aproveita para agradecer o apoio dos fãs, confessando que é no palco que se sente bem. Durante mais de uma hora e meia de concerto, pessoas de todas as idades cantaram com a banda os temas já conhecidos, frutos dos 30 anos de carreira da banda. Para terminar em beleza, o esperado tema “Casinha”.
 Noite de lua cheia, já passava mais de trinta minutos da uma da manhã, uma multidão aguardava de braços abertos o mais esperado concerto da primeira noite do festival.
Noite de lua cheia, já passava mais de trinta minutos da uma da manhã, uma multidão aguardava de braços abertos o mais esperado concerto da primeira noite do festival.  Manu Chao invade o palco com a sua energia e estilo contagiantes, camisa azul e chapéu esverdeado, num modo hiperactivo e com fome de palco, presenteou os fãs com os grandes hits da sua carreira durante um concerto que se prolongou até cerca das 4h00 da manhã. Temas como “Welcome to Tijuana”, “Por la Carretera”, “Bongo Bong”, “Clandestino”, “La Vida Tombola”, “Tà di Bobeira” satisfizeram as expectativas dos festivaleiros que acompanharam o concerto com muita cerveja, moche e drogas ilícitas.
Manu Chao invade o palco com a sua energia e estilo contagiantes, camisa azul e chapéu esverdeado, num modo hiperactivo e com fome de palco, presenteou os fãs com os grandes hits da sua carreira durante um concerto que se prolongou até cerca das 4h00 da manhã. Temas como “Welcome to Tijuana”, “Por la Carretera”, “Bongo Bong”, “Clandestino”, “La Vida Tombola”, “Tà di Bobeira” satisfizeram as expectativas dos festivaleiros que acompanharam o concerto com muita cerveja, moche e drogas ilícitas.  Levando o público a saltar e cantar em uníssono, num modo de genuína diversão, foi o tema “Me Gustas Tu” que mais levou ao rubro a assistência. A festa foi constante, introduzindo pelo meio algumas mensagens políticas que assim tanto os caracterizam, Manu Chao vestiu na perfeição o papel de melhor entertainer da primeira grande noite do festival.
Levando o público a saltar e cantar em uníssono, num modo de genuína diversão, foi o tema “Me Gustas Tu” que mais levou ao rubro a assistência. A festa foi constante, introduzindo pelo meio algumas mensagens políticas que assim tanto os caracterizam, Manu Chao vestiu na perfeição o papel de melhor entertainer da primeira grande noite do festival.
Os DJ´s de serviço, João Dinis e Nuno Cordeiro, animaram a noite dos sobreviventes da noite levada ao limite pelos Mano Chao. No palco secundário, ouviram-se temas de jazz, bossa, samba, reggae, ska, funk, drum&bass e afrobeat pela madrugada dentro.
15 de Julho de 2011
A dar início a mais uma noite de festival, durante cerca de 45 minutos, a banda de Mendes e João Só (bem acompanhado pelo público de Gaia), tocou temas como “Deixa-me ver”, “Sexta-Feira Teresa”, “Jimmy Olsen”, “Todas as noites”, “Documentos de amor” e “Vocês Sabem Lá” (numa versão que surpreendeu pela positiva), terminando com o tema “Sofia”. Realça-se a descontracção da banda durante o concerto, em plena harmonia com o ambiente vivido pela assistência.
 A banda de Serafim Borges, Sérgio Silva, Pedro Ferreira e Bruno Macedo marcaram presença no palco principal do festival Marés Vivas, no dia 15 de Julho, ainda iluminados pela luz do dia. Os Classificados começaram o concerto com os temas do seu mais recente álbum, lançado no dia 13 de Junho, “Perdidos e Achados”. Relembraram ainda a sua primeira presença no festival, em 2008, ano em que foram nomeados para o prémio de “Melhor Revelação”. Verificou-se uma crescente ocupação do recinto, até se formar uma pequena multidão motivada pelos temas “Ela, Mudar a Minha Sorte” e “Com Medo de Voar”, este último a encerrar a actuação sob uma chuva de aplausos calorosos.
A banda de Serafim Borges, Sérgio Silva, Pedro Ferreira e Bruno Macedo marcaram presença no palco principal do festival Marés Vivas, no dia 15 de Julho, ainda iluminados pela luz do dia. Os Classificados começaram o concerto com os temas do seu mais recente álbum, lançado no dia 13 de Junho, “Perdidos e Achados”. Relembraram ainda a sua primeira presença no festival, em 2008, ano em que foram nomeados para o prémio de “Melhor Revelação”. Verificou-se uma crescente ocupação do recinto, até se formar uma pequena multidão motivada pelos temas “Ela, Mudar a Minha Sorte” e “Com Medo de Voar”, este último a encerrar a actuação sob uma chuva de aplausos calorosos.
 A abrir o palco principal no segundo dia do festival esteve a banda de Leça da Palmeira, Expensive Soul que, em 2011, tem dado cartas nos palcos nacionais. A comprovar este sucesso, é de referir os milhares de pessoas, principalmente camadas mais jovens, que aguardavam impacientemente o início do concerto. Sempre a puxar pelo público, a dupla Demo e New Max, com mais 11 elementos em palco “Jaguar Band” apelou ininterruptamente ao público com frases feitas:
A abrir o palco principal no segundo dia do festival esteve a banda de Leça da Palmeira, Expensive Soul que, em 2011, tem dado cartas nos palcos nacionais. A comprovar este sucesso, é de referir os milhares de pessoas, principalmente camadas mais jovens, que aguardavam impacientemente o início do concerto. Sempre a puxar pelo público, a dupla Demo e New Max, com mais 11 elementos em palco “Jaguar Band” apelou ininterruptamente ao público com frases feitas:  “Como é que é Gaia?”, “Vocês são o melhor público de sempre”, “Vamos arrebentar com tudo isto”, “Quero ouvir essas palmas e os braços no ar”, conseguindo assim animar a malta com os temas “O Amor é Mágico”,”Dou-te Nada”, “13 Mulheres, “Tem Calma Contigo" e "Deixei de Ser Bandido". O tema “Eu não Sei” foi o encerramento de um concerto certeiro, no tempo previsto e sem direito a encore.
“Como é que é Gaia?”, “Vocês são o melhor público de sempre”, “Vamos arrebentar com tudo isto”, “Quero ouvir essas palmas e os braços no ar”, conseguindo assim animar a malta com os temas “O Amor é Mágico”,”Dou-te Nada”, “13 Mulheres, “Tem Calma Contigo" e "Deixei de Ser Bandido". O tema “Eu não Sei” foi o encerramento de um concerto certeiro, no tempo previsto e sem direito a encore.
 Depois da passagem pelo Coliseu da Invicta na digressão motivada pelo novo disco “Wonderlustre”, Skunk Anansie regressam aos palcos portugueses no segundo dia do Festival Marés Vivas. De fato preto justo e brilhante, juntando a um adorno assemelhando-se a umas asas coloridas e cintilantes, Skin abre as honras com o tema “Yes, It’s Fucking Political”, tema do seu novo álbum. Outras músicas do novo trabalho discográfico marcaram presença no concerto, tais como
Depois da passagem pelo Coliseu da Invicta na digressão motivada pelo novo disco “Wonderlustre”, Skunk Anansie regressam aos palcos portugueses no segundo dia do Festival Marés Vivas. De fato preto justo e brilhante, juntando a um adorno assemelhando-se a umas asas coloridas e cintilantes, Skin abre as honras com o tema “Yes, It’s Fucking Political”, tema do seu novo álbum. Outras músicas do novo trabalho discográfico marcaram presença no concerto, tais como  “Charlie Big Potato”, “Because of You” e “God Loves Only You”. A música “Secretly” despertou a reacção esperada, levando o público a cantar em uníssono. Com a sua energia inesgotável, fez a temperatura subir na audiência com três “crowd surfing”, com perguntas “Are You Fucking Alive?” e mensagens políticas sobre os países que lutam pela sua liberdade cantando o tema “I’ve Had Enough”. Para todos os presentes, um concerto a recordar.
“Charlie Big Potato”, “Because of You” e “God Loves Only You”. A música “Secretly” despertou a reacção esperada, levando o público a cantar em uníssono. Com a sua energia inesgotável, fez a temperatura subir na audiência com três “crowd surfing”, com perguntas “Are You Fucking Alive?” e mensagens políticas sobre os países que lutam pela sua liberdade cantando o tema “I’ve Had Enough”. Para todos os presentes, um concerto a recordar.
 O início do concerto de Moby foi marcado pela entrada da vocalista da banda entoando “In My Heart” (do álbum “18”, remontando a 2002), elevando a expectativa das cerca de 20.000 pessoas que, nessa noite, assistiam ao espectáculo. Logo de seguida Moby invade o palco de guitarra em punho, introduzindo o tema “Go” que, carinhosamente relembra ser a sua primeira obra. Segue-se “Why Does My Heart Feel So Bad?”, tema que o público fez questão de acompanhar numa só voz.
O início do concerto de Moby foi marcado pela entrada da vocalista da banda entoando “In My Heart” (do álbum “18”, remontando a 2002), elevando a expectativa das cerca de 20.000 pessoas que, nessa noite, assistiam ao espectáculo. Logo de seguida Moby invade o palco de guitarra em punho, introduzindo o tema “Go” que, carinhosamente relembra ser a sua primeira obra. Segue-se “Why Does My Heart Feel So Bad?”, tema que o público fez questão de acompanhar numa só voz.  No final de cada música Moby agradece “thank you, thank you, thank you” e em português, “obrigado” sempre mais do que três vezes. É de realçar o papel incansável de Moby em palco que, para além de cantar, deu cartas na guitarra, percussão e teclados. Cruzou temas como “Natural Blues” ou “Porcelain” com as batidas frenéticas de “Disco Lies”, “Lift Me Up”, “Feeling So Real” e “We Are All Made of Stars” (apresentada como a primeira música disco sonbre macânica quântica).
No final de cada música Moby agradece “thank you, thank you, thank you” e em português, “obrigado” sempre mais do que três vezes. É de realçar o papel incansável de Moby em palco que, para além de cantar, deu cartas na guitarra, percussão e teclados. Cruzou temas como “Natural Blues” ou “Porcelain” com as batidas frenéticas de “Disco Lies”, “Lift Me Up”, “Feeling So Real” e “We Are All Made of Stars” (apresentada como a primeira música disco sonbre macânica quântica).  Este concerto fez a ponte entre as várias fases da carreira de Moby, destacando-se um estilo mais raver que nunca. A pergunta “It’s friday night, one in the morning, who wants a disco party?” não desiludiu quem veio para se divertir. No encore, houve direito a uma versão de "Whole Lotta Love", no início mais bluesy e no final num estilo à Led Zeppelin. O concerto encerra "Feeling So Real", um verdadeiro hino rave.
Este concerto fez a ponte entre as várias fases da carreira de Moby, destacando-se um estilo mais raver que nunca. A pergunta “It’s friday night, one in the morning, who wants a disco party?” não desiludiu quem veio para se divertir. No encore, houve direito a uma versão de "Whole Lotta Love", no início mais bluesy e no final num estilo à Led Zeppelin. O concerto encerra "Feeling So Real", um verdadeiro hino rave.
16 de Julho de 2011
Durante os 30 minutos de actuação, a luso-descendente Mia Rose presenteou o público com o seu charme natural e interpretou versões de temas de Rui Veloso, Maroon 5 e Cee Lo Green. Agradeceu a presença naquele que considera o “maior festival do Norte do País” e proporcionou um concerto relaxado, bem ao estilo do ambiente Marés Vivas.
 Os Azeitonas, como seu estilo rock cheio e energia, subiram ao palco moche para protagonizarem um concerto que, apesar de semelhante a actuações anteriores, não deixou de satisfazer a pequena multidão que ocupou o recinto do palco secundário do festival Marés Vivas. Com a “casa cheia”, animaram o público com canções como “Quem és tu Miúda”, “ e “Anda Comigo ver os Aviões”.
Os Azeitonas, como seu estilo rock cheio e energia, subiram ao palco moche para protagonizarem um concerto que, apesar de semelhante a actuações anteriores, não deixou de satisfazer a pequena multidão que ocupou o recinto do palco secundário do festival Marés Vivas. Com a “casa cheia”, animaram o público com canções como “Quem és tu Miúda”, “ e “Anda Comigo ver os Aviões”.
 Num palco decorado com vários candeeiros e uma carpete vermelha, a portuguesa Áurea e mais oito elementos da sua banda entraram no palco, primando pela pontualidade. Às 20h30 já um público vasto esperava a actuação da artista que, como tema de abertura "The Main Things About Me", seguido de "Waiting, Waiting (For Me)", foi trazendo cada vez mais pessoas para o recinto. Nas paragens entre as músicas a cantora, vestindo uma saia travada preta e top tigresa, e os pés descalços, não se esqueceu de agradecer ao público e à organização do festival.
Num palco decorado com vários candeeiros e uma carpete vermelha, a portuguesa Áurea e mais oito elementos da sua banda entraram no palco, primando pela pontualidade. Às 20h30 já um público vasto esperava a actuação da artista que, como tema de abertura "The Main Things About Me", seguido de "Waiting, Waiting (For Me)", foi trazendo cada vez mais pessoas para o recinto. Nas paragens entre as músicas a cantora, vestindo uma saia travada preta e top tigresa, e os pés descalços, não se esqueceu de agradecer ao público e à organização do festival.  Os membros da banda vestiam fato preto, gravata e camisa branca. Uma nota para as coreografias discretas do saxofonista e trompetista, com as mãos, acompanhadas habilidosamente por alguns membros do público. O quarto tema, o primeiro single da banda “Busy (For Me)”, encheu as medidas do público. Logo de seguida a cantora anunciou duas surpresas. A primeira revelou-se uma versão, primeiro sensual e depois em alta rotação da música “Kiss” de Prince.
Os membros da banda vestiam fato preto, gravata e camisa branca. Uma nota para as coreografias discretas do saxofonista e trompetista, com as mãos, acompanhadas habilidosamente por alguns membros do público. O quarto tema, o primeiro single da banda “Busy (For Me)”, encheu as medidas do público. Logo de seguida a cantora anunciou duas surpresas. A primeira revelou-se uma versão, primeiro sensual e depois em alta rotação da música “Kiss” de Prince.  A segunda surpresa foi uma versão de "Don't Ya Say It", de Bryan Adams. O tema "No No No No, (I Don't To Fall In Love With You Baby)" foi amplamente aplaudido e permitiu muita interacção com o público. O final foi feito com a repetição de "Busy (For Me)" , já com o palco completamente molhado.
A segunda surpresa foi uma versão de "Don't Ya Say It", de Bryan Adams. O tema "No No No No, (I Don't To Fall In Love With You Baby)" foi amplamente aplaudido e permitiu muita interacção com o público. O final foi feito com a repetição de "Busy (For Me)" , já com o palco completamente molhado.
 A banda Tindersticks subiu ao palco principal protagonizando um concerto intimista, com pouca luz em palco e os ecrãs LED’s desligados. Apesar de se ter verificado que algumas pessoas saíram do recinto em busca de abrigo para a chuva, nem o estado meteorológico demoveu grande parte do público resistente do Marés Vivas.
A banda Tindersticks subiu ao palco principal protagonizando um concerto intimista, com pouca luz em palco e os ecrãs LED’s desligados. Apesar de se ter verificado que algumas pessoas saíram do recinto em busca de abrigo para a chuva, nem o estado meteorológico demoveu grande parte do público resistente do Marés Vivas.  O concerto foi uma verdadeira viagem pelos anos 90 e, apesar da notória desilusão demonstrada pelo Stuart Staples face ao clima que esperava em Portugal (até trouxe um fato de linho branco condizente com o bom tempo tão desejado), a banda cumpriu a sua missão e, sem grandes palavras para com o público, despediu-se de Portugal ao fim de menos de uma hora de concerto.
O concerto foi uma verdadeira viagem pelos anos 90 e, apesar da notória desilusão demonstrada pelo Stuart Staples face ao clima que esperava em Portugal (até trouxe um fato de linho branco condizente com o bom tempo tão desejado), a banda cumpriu a sua missão e, sem grandes palavras para com o público, despediu-se de Portugal ao fim de menos de uma hora de concerto.
 Para assistir ao concerto da banda irlandesa de rock alternativo, os The Cranberries, estiveram presentes mais de 20.000 pessoas, debaixo de uma chuva persistente. Apesar da paragem da banda entre o ano de 2003 e 2009, a voz inconfundível da vocalista Dolores O’Riordan não perdeu qualidade e presenteou os fãs com os temas "Linger", "Ode to My Family","Just My Imagination", "Salvation" (tema interpretado com penas de índio) e "Zombie" cuja letra foi maioritariamente cantada pelo público. No encore, repetiram-se os temas "Promises" e "Dreams" levando o concerto a terminar num ponto alto, para consolo dos fãs.
Para assistir ao concerto da banda irlandesa de rock alternativo, os The Cranberries, estiveram presentes mais de 20.000 pessoas, debaixo de uma chuva persistente. Apesar da paragem da banda entre o ano de 2003 e 2009, a voz inconfundível da vocalista Dolores O’Riordan não perdeu qualidade e presenteou os fãs com os temas "Linger", "Ode to My Family","Just My Imagination", "Salvation" (tema interpretado com penas de índio) e "Zombie" cuja letra foi maioritariamente cantada pelo público. No encore, repetiram-se os temas "Promises" e "Dreams" levando o concerto a terminar num ponto alto, para consolo dos fãs.
 O artista Mika, que passou por Portugal na edição 2010 do festival Sudoeste TMN e, em Outubro passado pelas festas académicas de Coimbra, encerrou o palco principal no último dia do Festival Marés Vivas no 16 de Julho. Numa noite marcada pela chuva miudinha até à 3ª música do concerto,
O artista Mika, que passou por Portugal na edição 2010 do festival Sudoeste TMN e, em Outubro passado pelas festas académicas de Coimbra, encerrou o palco principal no último dia do Festival Marés Vivas no 16 de Julho. Numa noite marcada pela chuva miudinha até à 3ª música do concerto,  Mika conseguiu motivar cerca de 22 mil pessoas a ficar até ao final do espectáculo que durou cerca de 1h30, debaixo de uma “brisa” cortante. Num palco decorado com falsos quadros antigos, um candelabro de cristal e com a banda vestida a rigor, a banda recebeu no seu “palácio” o calor de um público recheado de fãs incondicionais.
Mika conseguiu motivar cerca de 22 mil pessoas a ficar até ao final do espectáculo que durou cerca de 1h30, debaixo de uma “brisa” cortante. Num palco decorado com falsos quadros antigos, um candelabro de cristal e com a banda vestida a rigor, a banda recebeu no seu “palácio” o calor de um público recheado de fãs incondicionais.
 A dar entrada, soou o esperado tema “Relax, Take it Easy”, levando ao rubro a assistência. Sem deixar esmorecer os ânimos, seguiu-se a música “Big Girl (You Are Beautiful)” e “Stuck in the Middle”. Na quarta música Mika sobre para cima do piano, mostrando mais uma vez que com “pouco” faz muito espectáculo. Aproveita para elogiar a multidão e falar pequenas frases em Português, conquistando ainda mais a simpatia do público.
A dar entrada, soou o esperado tema “Relax, Take it Easy”, levando ao rubro a assistência. Sem deixar esmorecer os ânimos, seguiu-se a música “Big Girl (You Are Beautiful)” e “Stuck in the Middle”. Na quarta música Mika sobre para cima do piano, mostrando mais uma vez que com “pouco” faz muito espectáculo. Aproveita para elogiar a multidão e falar pequenas frases em Português, conquistando ainda mais a simpatia do público.  Dividiu o público em duas partes e propôs uma canção ao despique, para introduzir o próximo tema “Blame It On the Girls”. A noite ficou marcada pelos sucessivos êxitos das tabelas de vendas, tais como “We are Golden”, “Rain” (coincidente com o clima da noite), “Grace Kelly” e “Love Me”, “Lollipop” e uma música entoada em língua francesa. Uma noite a recordar.
Dividiu o público em duas partes e propôs uma canção ao despique, para introduzir o próximo tema “Blame It On the Girls”. A noite ficou marcada pelos sucessivos êxitos das tabelas de vendas, tais como “We are Golden”, “Rain” (coincidente com o clima da noite), “Grace Kelly” e “Love Me”, “Lollipop” e uma música entoada em língua francesa. Uma noite a recordar.
Reportagem Sumol Summer Fest 2011
- Festivais
- Festivais
- Acessos: 4009
 O cartaz prometia dois dias de boas vibrações, o calor e o sol chamaram pessoas de todas as idades ao Sumol Summer Fest. Estava tudo a postos para receber nomes sonantes do mundo Reggae. Pelo 2ºano consecutivo os bilhetes esgotaram e o recinto já se revela pequeno para a boa energia que se vive nestes dois dias.
O cartaz prometia dois dias de boas vibrações, o calor e o sol chamaram pessoas de todas as idades ao Sumol Summer Fest. Estava tudo a postos para receber nomes sonantes do mundo Reggae. Pelo 2ºano consecutivo os bilhetes esgotaram e o recinto já se revela pequeno para a boa energia que se vive nestes dois dias.
 Freddy Locks abriu o palco. A banda portuguesa deu as boas vindas ao público já presente no recinto e aqueceram o pessoal para os americanos S.O.J.A. Os fãs aplaudiram, cantaram e vibraram ao som da voz de Jacob Hemphill, que aproveitou para agradecer a recepção sempre tão calorosa do público português, e como forma desse mesmo agradecimento lançou alguns cd´s para o público no final do concerto.
Freddy Locks abriu o palco. A banda portuguesa deu as boas vindas ao público já presente no recinto e aqueceram o pessoal para os americanos S.O.J.A. Os fãs aplaudiram, cantaram e vibraram ao som da voz de Jacob Hemphill, que aproveitou para agradecer a recepção sempre tão calorosa do público português, e como forma desse mesmo agradecimento lançou alguns cd´s para o público no final do concerto.
 O recinto já estava cheio quando a nigeriana Nneka entrou em palco. A pouca energia da cantora e brilho em cima do palco atenuou a energia que estava instalada na Ericeira. O entusiasmo diminuiu e não aumentou nem mesmo com a actuação de Fat Fredy´s Drop. O concerto não correspondeu às expectativas e só no final vieram ritmos mais animados que reanimaram a plateia para o que vinha em seguida.
O recinto já estava cheio quando a nigeriana Nneka entrou em palco. A pouca energia da cantora e brilho em cima do palco atenuou a energia que estava instalada na Ericeira. O entusiasmo diminuiu e não aumentou nem mesmo com a actuação de Fat Fredy´s Drop. O concerto não correspondeu às expectativas e só no final vieram ritmos mais animados que reanimaram a plateia para o que vinha em seguida.
 A grande expectativa ficou para o final, com o italiano Alborosie. Entrou em grande no palco Sumol e levou o recinto completamente cheio ao rubro. Demonstrou grande à vontade e interagiu com o público do princípio ao fim da actuação. " Kingston Town" e "Herbalist" foram alguns dos êxitos que fizeram os fãs vibrarem.
A grande expectativa ficou para o final, com o italiano Alborosie. Entrou em grande no palco Sumol e levou o recinto completamente cheio ao rubro. Demonstrou grande à vontade e interagiu com o público do princípio ao fim da actuação. " Kingston Town" e "Herbalist" foram alguns dos êxitos que fizeram os fãs vibrarem.
A animação continuou na tenda eléctronica com Guy Gerber e os mais resistentes continuaram pela noite dentro.
 Depois de muita praia, sol e calor, a música voltou ao recinto do festival para o último dia de concertos.
Depois de muita praia, sol e calor, a música voltou ao recinto do festival para o último dia de concertos.
Cacique´97 trouxeram à Ericeira o seu afro beat. Apesar do recinto ainda se encontrar com pouca afluência, o público dançou ao som do ritmo desta banda nacional e preparou-se para Richie Campbell.
 O português já nos tem vindo a habituar à sua energia contagiante e rapidamente o recinto encheu. Richie Campbell fez jus ao convite que recebeu para acompanhar Anthony B na sua digressão europeia. A interacção com os fãs e a sua energia contagiante fizeram o anoitecer na Ericeira um momento cheio de boas energias.
O português já nos tem vindo a habituar à sua energia contagiante e rapidamente o recinto encheu. Richie Campbell fez jus ao convite que recebeu para acompanhar Anthony B na sua digressão europeia. A interacção com os fãs e a sua energia contagiante fizeram o anoitecer na Ericeira um momento cheio de boas energias.  Depois do recinto quase completo, todos aguardavam com ansiedade os Natiruts.
Depois do recinto quase completo, todos aguardavam com ansiedade os Natiruts.
Trazendo o calor e boa vontade à Ericeira, Naitruts partilharam a sua alegria entoando, em conjunto com o pessoal presente as suas músicas.
 Apesar do bom ambiente e animação que se vivia no festival, Donavon Frankenreiter não conseguiu "agarrar" a plateia e deixou esmorecer os ânimos. Revelou-se um concerto para outras "salas". No entanto, todos esperavam por Anthony B e o jamaicano não desiludiu. O recinto voltou a animar e os ritmos do reggae voltaram para terminar a noite em grande.
Apesar do bom ambiente e animação que se vivia no festival, Donavon Frankenreiter não conseguiu "agarrar" a plateia e deixou esmorecer os ânimos. Revelou-se um concerto para outras "salas". No entanto, todos esperavam por Anthony B e o jamaicano não desiludiu. O recinto voltou a animar e os ritmos do reggae voltaram para terminar a noite em grande.  Anthony B levou o público ao rubro na noite quente da Ericeira com as suas músicas e energia.Elogiou o nosso país e o nosso povo e agradeceu a presença de uma plateia tão enérgica. No fim chamou Richie Campbell ao palco e cantaram em dueto a última música do palco Sumol deste ano.
Anthony B levou o público ao rubro na noite quente da Ericeira com as suas músicas e energia.Elogiou o nosso país e o nosso povo e agradeceu a presença de uma plateia tão enérgica. No fim chamou Richie Campbell ao palco e cantaram em dueto a última música do palco Sumol deste ano.
A noite continuou quente ao som de DJ Ride na tenda electrónica.
E assim termina a 3ª edição do Sumol Summer Fest.
Esperamos para o ano um cartaz tão bom ou melhor que este ano e talvez um novo local para o festival que tem vindo a aumentar gradualmente e já merece que mais pessoas partilhem as boas vibes que se sentem neste festival.
|
|
|